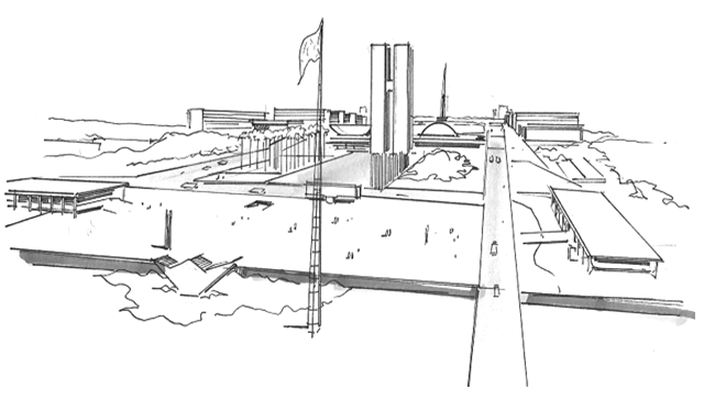4 ALGUMAS DECISÕES ATIVISTAS
O STF ao apreciar uma “Questão de Ordem” no julgamento do Mandado de Injunção n. 107[38] entendeu que os efeitos normativos desse instituto processual seriam similares aos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no caso a declaração em “mora” do legislador ou do administrador para que cientes de sua respectiva omissão inconstitucional tomassem as medidas necessárias. Seria, por essa linha jurisprudencial, uma espécie de “ação declaratória de omissão inconstitucional”. [39]
Essa perspectiva restou definitivamente superada pelo Tribunal na apreciação do Mandado de Injunção n. 708[40] na qual a Corte entendeu que poderia ser sanada injustificada omissão normativa inconstitucional do Legislador. No caso, cuidava-se da ausência de norma legal regulando o direito constitucionalmente assegurado de greve dos servidores públicos. Ante a injustificada inércia do legislador em regular esse direito assegurado pelo texto da Constituição (art. 37, VII)[41], decidiu a Corte aplicar por analogia aos servidores públicos, naquilo que fosse compatível, a Lei de Greve (Lei 7.783/1989) que regulava as relações trabalhistas na iniciativa privada.
Correto o novo entendimento do Tribunal, seja em relação ao alcance normativo do mandado de injunção seja em relação ao caso concreto que solucionou. Com efeito, a Constituição concedeu ao servidor público o direito de greve. Esse direito estava sendo obstaculizado em face da injustificada omissão normativa do legislador. Não se tratava de interesse político dos servidores públicos, mas de direito constitucionalmente assegurado, mas inviabilizado pela inaceitável mora legislativa.
Outra questão apreciada pelo STF se deu por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção n. 721[42] no qual o Tribunal, em face da inexistência de lei complementar regulamentando o art. 40, § 4º, CF[43], que estabelece as hipóteses de aposentadoria especial para os servidores públicos. A Corte, assim com o fizera em relação à greve do servidor público, estendeu para o servidor público, por analogia, o regime legal próprio dos trabalhadores da iniciativa privada (art. 57, § 1º, Lei 8.213/91).[44]
Outro julgamento emblemático foi o da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132[45]. Nesse julgamento o Tribunal conferiu uma “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723[46] do Código Civil em face do art. 226, § 3º[47], CF, no que concedeu aos “casais homossexuais” os mesmos direitos e prerrogativas dos “casais heterossexuais”.
Na perspectiva de uma moralidade liberal, a decisão do STF foi correta, especialmente em face do princípio da dignidade humana, da autonomia da vontade, da igualdade substantiva e do fato de que não haveria “prejuízo” algum para terceiros. Todavia, à luz do princípio da estrita legalidade e lastreado no fato inquestionável de que as palavras nos textos normativos não são escritas à toa, a fundamentação vencedora não foi a mais adequada, especialmente as consequências posteriores que resultaram em “casamentos homossexuais”, sem que houvesse amparo legal.
Com efeito, o voto que mais se aproxima de uma adequada interpretação constitucional foi o emitido pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de reconhecer e de estender às “uniões homossexuais ou homoafetivas”, naquilo que coubesse e fosse pertinente, o mesmo regime jurídico das “uniões heterossexuais”, mas respeitando as letras do texto constitucional e da legislação infraconstitucional pertinente.
Outro julgamento paradigmático sucedeu nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54[48], que cuidou do reconhecimento da validade normativa da interrupção da gravidez de feto anencefálico, a despeito das hipóteses normativas contidas nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, todos do Código Penal, que não reconheciam a inviabilidade da vida intrauterina fetal como justificação para a interrupção da gravidez.
Nesse julgamento, o Tribunal correu o risco de legislar positivamente, em sede penal, na medida em que criou uma nova hipótese de descriminação de aborto. Mas a justificativa normativa da Corte foi adequada, conquanto desnecessária. É que a rigor a extração do feto anencefálico do útero da mãe não é abortamento, pelo simples fato de que o feto, por ser anencefálico, não está vivo. O abortamento pressupõe a vida intrauterina. Se vivo não estava, não há que se falar em aborto. O aborto provoca a morte do feto. Mas se o feto já estiver sem vida, não há que se falar em abortamento.
Outro tema que nos Estados Unidos é sempre recordado como exemplo de manifestação do “ativismo judicial” é o das “políticas afirmativas raciais ou étnicas”.[49] No STF a questão foi apreciada por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186[50].
Nesse caso o Tribunal não foi “ativista”, dentro do conceito de ativismo judicial que estamos a trabalhar, pois não houve preenchimento de lacuna normativa, mas tão somente a chancela judicial de medida de política afirmativa, nada obstante equivocada essa medida, pois se utilizou um critério “arbitrário e cego” para criar discriminações positivas, mas sem qualquer embasamento empírico consistente. Com efeito, não se demonstrou que a “cor ou raça ou etnia” era o elemento que impedia o acesso à universidade pública. Mais uma vez o Estado brasileiro optou pela solução simplista em vez de enfrentar as raízes reais dos problemas: a baixa qualidade da educação fundamental pública que não viabiliza igualdade de condições e oportunidades. Metaforicamente: “o Estado quebra a sua perna, depois lhe oferece a muleta”.
O princípio constitucional da estrita legalidade foi recentemente utilizado pelo Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860[51], apreciou a questão do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’, nos termos do art. 40, § 1º, I, CF.
O Tribunal manteve a sua linha jurisprudencial no sentido de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Ou seja, a Corte não foi ativista.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 875[52], que cuidou dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, o Tribunal reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e determinou um prazo de validade normativa da Lei Complementar n. 62/1989. Sucede, todavia, que já venceu o prazo assinalado pelo STF. E até o presente o Congresso Nacional não editou nova lei complementar compatível com a decisão do STF. E a Corte não tem mecanismos para constranger o Legislador a legislar. Como se trata de questão que envolve alta política financeira, orçamentária e federativa, convém ao Tribunal manter-se afastado dessa controvérsia, pois nessas questões “acaba o direito público”, é pura política.
Mas no julgamento do Mandado de Injunção n. 943[53], que analisou a omissão inconstitucional relativa ao art. 7º, inciso XXI, CF[54], no concernente ao aviso prévio proporcional, o Tribunal superou o velho precedente estabelecido no Mandado de Injunção n. 369[55], e debateu sobre quais seriam os prazos, de um modo absurdamente arbitrário. Diante dessa situação inusitada, o Congresso Nacional, às pressas, editou a Lei 12.506/2011 regulamentando os prazos relativos ao mencionado direito de aviso prévio. O Tribunal, que havia julgado por bem suspender o julgamento, aplicou os prazos legalmente estabelecidos. A rigor deveria ser julgado prejudicado o mencionado feito, ante a superveniência da regulamentação legal. Registre-se, por oportuno e necessário, que a decisão do STF forçou o Congresso Nacional a chegar a um consenso e editar a mencionada Lei 12.506/2011.
Especial atenção de toda a comunidade jurídica, e de toda a sociedade brasileira, merecem o Mandado de Injunção n. 4.733[56] e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26[57], ainda não julgados definitivamente, que cuidam de postulação no sentido de o STF, em face da omissão legislativa do Congresso Nacional, no tocante aos incisos XLI[58] e XLII[59], art. 5º, CF, preencher essa lacuna normativa e tipificar penalmente as condutas homofóbicas.
Em decisão monocrática, o relator ministro Ricardo Lewandowski, forte no que decidido no Mandado de Injunção n. 624[60], não conheceu do aludido MI 4.733. Sucede, todavia, que houve interposição de agravo regimental da parte impetrante e o relator determinou a colheita de parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela concessão da ordem injuncional, com esteio na tese de que a proteção dos direitos fundamentais encontra-se deficiente ante a inércia do legislador penal. Se acolhida a pretensão, o STF estará tipificando penalmente condutas inconvenientes, civilmente ilícitas, imorais na perspectiva liberal, mas que ainda não são criminosas. Seria um passo demasiadamente largo e absurdamente perigoso.
Mas todo cuidado é pouco. Com efeito, o STF editou a Súmula Vinculante n. 11[61], que tem o seguinte teor: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Se não bastassem a absoluta inconveniência desse provimento judicial e a sua má redação normativa, tenha-se a criação de responsabilidade penal onde o legislador penal não criou.
Portanto, é preciso vigilância social sobre o STF para que a Corte não caia na tentação diabólica de querer inovar o ordenamento jurídico mediante a criação de tipos penais. Seria o começo do fim. Nessa linha, só restaria ao Tribunal também criar tipos tributários e, como supremo ápice de seu ativismo, decretar a inconstitucionalidade de preceito normativo constitucional originário.
Cuide-se, a bem da verdade, que o Tribunal, ao editar a Súmula Vinculante n. 25[62] (É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito) afastou, parcialmente, a vigência do enunciado constitucional originário prescrito no art. 5º, LXVIII, CF (não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel). A Corte, a pretexto de prestigiar o Pacto de San Jose da Costa Rica, afastou, parcialmente, a vigência do aludido preceito constitucional originário.
Daí que todo cuidado é pouco. Afinal o Supremo Tribunal Federal, em tempos de normalidade institucional, detém o monopólio da definitiva palavra do que seja a Constituição. E a Constituição, nos tempos de paz, tem como “guardião” o STF. “Guardião”. E não o seu “Carcereiro ou Algoz”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ativismo judicial consiste na faculdade que possui o Poder Judiciário de viabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, mas que esteja sendo inviabilizado por omissão normativa injustificada do Estado.
Somente cabe a intervenção judicial ativista diante das normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. Não cabe a intervenção judicial nas hipóteses que exijam a exclusiva intervenção do legislador ou do administrador.
O princípio constitucional da estrita legalidade, corolário dos postulados da soberania popular e da separação dos Poderes, é um freio limitador à intervenção ativista do Poder Judiciário, especialmente em questões financeiras, tributárias e penais. Nessas matérias não cabe a intervenção ativista do Judiciário ante a exclusiva exigência de Lei.
Ao Supremo Tribunal Federal cabe proteger a Constituição em face de atos inconstitucionais. O STF deve agir como “guardião” do texto constitucional, prestando-lhe vassalagem e obediência servil, e não como seu “carcereiro” ou se comportando como seu suserano e senhor.
À luz das decisões judiciais apreciadas, pode-se concluir que o Tribunal tem se comportado de um modo ativista. Mas em algumas situações, a Corte vai além dos limites constitucionalmente estabelecidos. Mas não há poder capaz de detê-la.
6 REFERÊNCIAS
Doutrinárias
ALVES JR., Luís Carlos Martins. O Supremo Tribunal Federal nas Constituições brasileiras. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do (coordenador). Estado de direito e ativismo judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
BARBOSA, Joaquim. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade – o direito como instrumento de transformação social: a experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
BARROS, Clemilton da Silva. A aposentadoria especial do servidor público e o mandado de injunção – análise da jurisprudência do STF acerca do artigo 40, parágrafo 4º, da CF. Campinas: Servanda, 2012.
BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro – contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do STF. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
DE PÁDUA, Marsílio. O defensor da paz. Tradução de José Antônio Camargo Rodrigues de Souza. Petrópolis: Vozes, 1997.
DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007.
ELY, John Hart. Democracia e desconfiança – uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. Tradução de Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
FRANCISCO, José Carlos (coordenador). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional – do passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: DelRey, 2012.
GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento de transformação social – a experiência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O outro lado do STF. In: AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do (coordenador). Estado de direito e ativismo judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes – justificativa do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Barão de. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial – parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.
SCHMITT, Carl. O guardião da Constituição. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: DelRey, 2007.
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000
WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
WOLFE, Christopher. La transformacion de la intepretación constitucional. Traduccion de María Gracia Rubio de Casas y Sonsoles Valcarcel. Madrid: Civitas, 1991.
Judiciais
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 875. Plenário. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento em 24.2.2010. Publicação em 30.4.2010.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26. Plenário. Relator ministro Celso de Mello.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento n. 138.344. Primeira Turma. Relator ministro Celso de Mello. Julgamento em 2.8.1994. Publicação em 12.5.1995.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54. Plenário. Relator ministro Marco Aurélio. Julgamento em 12.4.2012. Publicação em 30.4.2013.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186. Plenário. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento em 26.4.2012. Publicação em 20.10.2014.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 369. Plenário. Redator ministro Francisco Rezek. Julgamento em 19.8.1992. Publicação em 26.2.1993.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 4.733. Plenário. Relator ministro Ricardo Lewandowski.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 624. Plenário. Relator ministro Menezes Direito. Julgamento 21.11.2007. Publicação em 28.3.2008.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 943. Plenário. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento em 6.2.2013. Publicação em 23.6.2014.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 656.860. Plenário. Relator ministro Teori Zavascki. Julgamento em 21.8.2014. Publicação em 18.9.2014.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 11. Plenário. Aprovação em 13.8.2008. Publicação em 22.8.2008.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 25. Plenário. Aprovação em 16.12.2009. Publicação em 23.12.2009.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 85.060. Primeira Turma. Relator ministro Eros Grau. Julgamento em 23.9.2008. Publicação em 13.20.2009.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 95.782. Primeira Turma. Relator ministro Luiz Fux. Julgamento em 2.8.2011. Publicação em 18.8.2011.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 107 – Questão de Ordem. Plenário. Relator ministro Moreira Alves. Julgamento em 23.11.1989. Publicação em 21.9.1990.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 708. Plenário. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento em 25.10.2007. Publicação em 31.10.2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 721. Plenário. Relator ministro Marco Aurélio. Julgamento em 30.8.2007. Publicação em 30.11.2007.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 414.249. Segunda Turma. Relator ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em 31.8.2010. Publicação em 16.11.2010.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132. Plenário. Relator ministro Ayres Britto. Julgamento em 5.5.2011. Publicação em 14.10.2011.