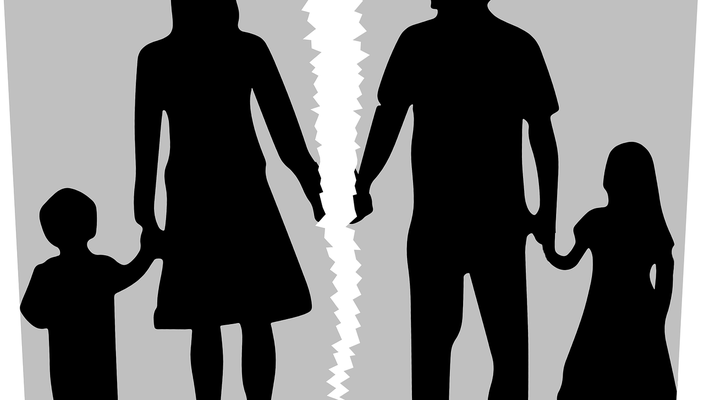Lastreando-se na ideia de que o Direito Processual muitas vezes precisa buscar diretrizes e parâmetros no Direito Material para alcançar a efetividade da instrumentalidade adequada, diversos temas e institutos processualísticos acompanham as polêmicas inerentes à própria evolução do Direito Civil e de sua marcha social. Afinal, como conferir efetividade a um direito sem manter estrita consonância com suas peculiaridades?
Talvez o exemplo mais evidente que confirme esse paralelo refira-se justamente às técnicas processuais relativas ao Direito de Família, dogmática que, além de consubstanciar um dos pilares do Direito Privado e mostrar-se envolta de polêmicas de diversas ordens, vem sofrendo inúmeras alterações consoante ao ideário de família originado socialmente e ao plexo de todas as relações jurídicas daí advindas.
Não há dúvidas de que o legislador, ao se debruçar no fazimento das legislações relativas a essa matéria, criou um modelo padrão de família, baseado especialmente em valores tidos por superiores pela classe mais dominante. O patriarcalismo, a heteronormatividade e o ideário cristão-monogâmico mostraram-se, então, princípios essenciais e implícitos que nortearam, por muitas décadas, toda a estruturação do Direito de Família brasileiro.
E evidentemente que ao tentar padronizar e uniformizar a regulamentação de cada família individual por meio de um quadro abstrato-valorativo, o fracasso seria inevitável. Seja em razão da enorme complexidade das relações que não cabem no muito limitado padrão estabelecido legalmente, seja porque o padrão valorativo partia de uma lógica excludente, em que tudo que fugia dos moldes fixados seria abandonado e ignorado pela seara jurídica, embora nunca pela realidade social.
E embora esse movimento seja muito mais debatido e estudado no âmbito do direito material, é certo que também acompanhou a evolução e o desenvolvimento dos institutos processuais.
Nessa linha, temática que não raro deflagra controvérsias em sede acadêmica e dúvidas na vida prático-profissional de todo operador do Direito, a aferição da competência para o ajuizamento da ação de dissolução da unidade familiar mostra-se objeto de incessantes discussões, críticas sociais e, evidentemente, transformações, seja em sede doutrinária, seja na jurisprudência.
Aliás, até o dia 18 de Março de 2016, o foro competente para o ajuizamento de uma ação simples de divórcio ainda era o domicílio da mulher. A lógica, que além de considerar tão somente a família heteroafetiva, era a de conferir abstratamente à mulher a qualificação processual de parte vulnerável e fraca na relação de divórcio, merecedora, portanto, de proteção pela lei processual. O critério era baseado exclusivamente no gênero da parte, ilustrando todo o alastramento do falso mito da superioridade masculina na construção (e no desfazimento) da unidade familiar.
Curioso notar, portanto, como as regras de fixação da competência nas ações de Direito de Família também evidenciam noções sociológicas e políticas dos valores subjacentes às opções legislativas representativas da manifestação do poder do Estado.
Considerando-se esse contexto introdutório, principalmente de constante evolução e quebra de paradigmas, o presente artigo visa, ainda que sucintamente, traçar algumas considerações sobre a aferição da competência nas ações de dissolução do núcleo familiar, focando-se especialmente na evolução das relações sociais e na natural falta de previsibilidade legislativa.
Antes de avançarmos no tema, entretanto, mostra-se adequado realçar o conceito contemporâneo de competência, a fim de que seja possível com ele lidar sobre as polêmicas inerentes.
O instituto da competência foi inicial e tradicionalmente conceituado por um viés quantitativo. Definia-se competência como “medida de jurisdição” ou “quantidade de jurisdição”.
Essa noção sofreu evolução, considerando-se que referido viés de conceituação impingia confusão entre os institutos da competência e da própria jurisdição, como poder estatal, a qual, por sua unicidade e indivisibilidade, confrontava-se com a noção de quantidade.
A doutrina, então, passou a utilizar o viés da legitimidade, em detrimento do quantitativo. Dessa forma, a competência passou a ser definida como exercício legítimo da jurisdição e não mais como quantidade de jurisdição atribuída a um determinado órgão. A limitação resta enfatizada pela legitimidade, consubstanciada no exercício funcional de cada órgão jurisdicional, nos exatos termos e limites de sua origem constitucional.
Sob tal análise, é que se adota aqui o conceito de competência trazido por Sérgio Bermudes: “A competência é a limitação do exercício legítimo da jurisdição[1]”.
Referida conceituação afasta a ideia clássica de que o juiz incompetente não possui jurisdição suficiente para exercer, abstraindo-se a questão para a falta de legitimidade no efetivo exercício jurisdicional, prezando pela coerência com o próprio conceito de jurisdição. Nesse sentido:
“O juiz incompetente estará, portanto, exercendo de forma ilegítima sua jurisdição, algo bem diferente, inclusive em termos de gravidade do vício gerado, da situação em que um sujeito qualquer pratica atos que exigiriam o poder jurisdicional sem estar devidamente investido. Prova maior de que o órgão jurisdicional, mesmo sem competência, tem jurisdição é a aplicação do princípio Kompetenz Kompetenz, que atribui ao órgão incompetente a competência para declarar sua própria incompetência. Caso a ausência de competência gerasse ausência de jurisdição, essa declaração de incompetência seria ato inexistente, o que naturalmente não ocorre[2]”.
A definição contemporânea do conceito de jurisdição, que abarca a noção de legitimidade do exercício jurisdicional é instrumental relevante para a análise do tem ora tratado, pois que influencia os próprios efeitos atribuídos aos atos de um juiz incompetente.
Superados esses pontos iniciais, a regra processual que hoje regulamenta a competência nas ações de dissolução da família está inscrita no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil:
“Art. 53. É competente o foro:
I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:
a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;
d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”
O artigo estabelece quatro hipóteses para a aferição da competência em ações de dissolução da unidade familiar (divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável). O legislador optou por descrevê-las de forma que a topologia e disposição dos incisos parece, num primeiro momento, indicar uma ordem de preferência a ser observada.
Antes de analisar, no entanto, a suposta ordem de subsidiariedade indicada pela disposição normativa, a primeira questão que se coloca é identificar se as hipóteses se qualificam como competência relativa ou absoluta. A distinção guarda peculiar relevância porquanto a espécie da competência implica procedimentalização e efeitos distintos quanto a cada uma delas.
Não obstante, o atual Diploma Processual Civil em muito aproximou procedimentalmente o tratamento dessas duas espécies de competência. A distinção precisa entre elas será de grande importância quando lidarmos com conflito das hipóteses estabelecidas pelo legislador.
Muito sucintamente, pois que a discussão mais aprofundada não integra o objetivo da presente exposição, a doutrina tem distinguido a competência relativa da absoluta no que tange à razão política subjacente. Enquanto que a competência relativa se mostra respaldada pela razão dispositiva da vontade das partes, a absoluta alicerça-se na razão cogente do interesse público.
A qualificação entre o caráter relativo ou absoluto de cada uma depende exclusivamente do interesse político manifestado pelo legislador, seja de forma explícita ou implícita. Não há dúvidas de que quanto maior o lastro de abrangência da competência absoluta, mais próximo se torna o Estado de feições autoritárias e mais intensos se tornam os obstáculos ao acesso à Justiça, na medida em que a busca pelo foro competente pode, muitas vezes, fazer com que o indivíduo desista de pleitear a efetivação de direitos, seja por razões financeiras, geográficas, culturais, de informação ou de qualquer outra ordem. O Estado, então, envolto pelo manto da inércia da jurisdição, dita as orientações espaciais e territoriais que necessariamente devem ser observadas para o exercício do direito de ação.
Por essa razão, o caráter absoluto da competência deve ser sempre analisado pela ótica excepcional e tão somente se justifica quando houver pessoas ou valores que precisam ser protegidos para viabilizar a concretização do devido processo legal, sob sua perspectiva substancial.
O Direito de Família, justamente por envolver frequentemente questões de cunho pessoal e bastante íntimas de cada indivíduo, principalmente por envolver possivelmente os mais nobres sentimentos do ser humano, tem assistido à uma evolução que prima pela redução de normas cogentes de ordem pública em sua regulamentação, primando-se pelas normas dispositivas, que possam ser exercidas conforme o elemento volitivo manifestado por cada integrante de cada unidade familiar.
Curioso observar, ademais, como grandes transformações dessa dogmática sucederam-se justamente com a redução do âmbito das normas de ordem pública, concedendo-se maior liberdade individual, como a possibilidade de adoção recíproca do nome de cada cônjuge, a escolha do regime patrimonial, inclusive para pessoas idosas, o reconhecimento de uniões outras que não a heteroafeitiva, a possibilidade de registro de paternidade ou maternidade socioafetiva, dentre diversos outros exemplos.
Sempre será muito árdua a tarefa de buscar o equilíbrio entre a vontade individual e a necessidade do regramento compulsório indicado pelo Estado. E essa dificuldade também se verifica em termos processuais, como na questão da aferição da competência, que ora se pretende discutir, especialmente quanto à sua classificação entre relativa ou absoluta.
Cabe aqui ressaltar que, tradicionalmente, a competência em razão do lugar sempre foi tida como o mais clássico exemplo de competência relativa, de forma que cada parte teria liberdade bastante para optar pelo foro que melhor lhe conviesse para o ajuizamento de uma demanda.
E numa primeira leitura – certamente menos atenta - das alíneas integrantes do artigo 53, inciso I do Código de Processo Civil parece indicar hipóteses imediatas de competência em razão do lugar, pois se fala em “domicílio”.
Daí advém a ideia de que a topologia dessas alíneas poderia expressar uma ordem subsidiária, e até simplória, de sucessivas indicações de competência relativa em razão do lugar a serem observadas para a aferição da competência adequada: havendo filho menor, deve ser o domicílio do guardião. Subsidiariamente, não havendo filho menor, deve ser o do último domicílio do casal. Ainda subsidiariamente, se nenhuma das partes residir no último foro do casal, a competência será a do foro da parte ré. Apenas a última alínea, inserida pela Lei 13.894, de 29 de Outubro de 2019, soaria estranho à lógica de subsidiariedade da ordem indicada pelo legislador e que deveria ser analisada em cada caso concreto.
De qualquer forma, já se adianta que não é possível concluir pela ordem subsidiária tal qual indicada.
Inicialmente porque a utilização do critério “lugar” para se definir o foro competente qualifica-se como um “pseudo-critério”, na medida em que toda demanda deve ser ajuizada em algum lugar do território. Não pode, portanto, por uma questão de lógica, que o lugar em que a demanda deva ser proposta seja o próprio critério de aferição desse mesmo lugar. Nesse sentido:
“A doutrina mais antiga dava grande valor a uma clássica separação das espécies de competência consistente no conhecido trinômio matéria-lugar-pessoa. Ainda que em certa medida as locuções latinas ali empregadas tenham alguma razoável capacidade de transmitir ideias aceitáveis em face das colocações modernas, o trinômio como tal já não é capaz de expressar um quadro adequado de espécies de competência. A razão central dessa insuficiência é a confusão, ali contida, entre critérios pelos quais se determina a competência e problemas de competência a resolver com a aplicação de critérios. A matéria, ou seja, a natureza jurídico-material do litígio, é um critério (direito real, direito de família, direito do trabalho). A condição das pessoas é também um critério (União, Fazenda Pública, alimentando, idoso). Mas o lugar não é um critério: é a problemática inerente à distribuição das causas pelo território nacional. Para a resposta aos quesitos que compõem a problemática da competência territorial levam-se em conta a matéria (direito real – foro da situação do imóvel – CPC, art. 47) e a condição das pessoas (o alimentando, o idoso em litígios regidos por seu estatuto etc) – ao lado de outros fatores, esses sim territoriais, que expressam a ligação da causa ao território (os elementos de ligação – domicílio, situação do imóvel, ocorrência do ato ou fato etc)[3]”
O lugar, portanto, não é critério para a identificação da competência. Para se aferir a competência para um caso concreto, bem como a natureza dessa competência (o que implicará efeitos peculiares), utilizam-se os critérios da matéria versada e da pessoa titular dos direitos envolvidos, além de outros fatores capazes de estabelecer a ligação da causa ao território.
Na análise do artigo 53, I, do Código de Processo Civil, o termo “domicílio” utilizado pelo legislador nas quatro alíneas que integram o dispositivo informa tão somente um desses fatores de ligação entre a demanda e o território, ou seja, a conectividade quanto ao foro escolhido, de forma que não possui o condão, por si só, de qualificar a espécie de competência.
Certo é que toda demanda deve ser proposta em um determinado território, independente da espécie de competência de que se trata (em razão da matéria, da pessoa, etc.) e o que faz a conexão entre a demanda com o lugar em que é ajuizada denomina-se de fator de ligação, o qual, reitera-se, não define a espécie de competência.
Mais uma vez, a ensinança de Cândido Rangel Dinamarco:
“No trato da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a este. As disposições da lei sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e os combinou, dando prevalência a um em certos casos e valorizando outros em relação a determinadas outras situações etc(...) Eis o quadro de uma visão esquemática e pouco mais que exemplificativa dos critérios de ligação territorial tomados pelo legislador para a determinação da competência territorial- no qual são indicados os elementos da demanda que, caso a caso, servem de critério: (...) demandas de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável (art. 53, inc. I, letras a a c). Fatores de ligação ao território: a) sede das partes, ou seja: o último domicílio do casal, o lugar onde entidades sem personalidade jurídica exercem suas atividades; b) o lugar do domicílio de uma das partes, em associação com a sua condição[4]”
Portanto, não basta a mera menção à palavra “domicílio” para viabilizar a qualificação da competência.
Com base em tais diferenciações, adotemos, então, as classificações de competência propostas pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, seguindo a divisão estabelecida no Código de Processo Civil:
“em cumprimento dessa tarefa, é lícito repartir os preceitos contidos no Capítulo I do Título da competência interna (arts. 42-66) em cinco tópicos, assim discriminados: a) a matéria em litígio, ou seja, os fundamentos de direito material; b) a pessoa que figura no litígio; c) o valor patrimonial do litígio; d) a função exercida pelo Poder Judiciário no mesmo processo ou em processo antecedente (competência funcional); e) a relação da causa com o território nacional ou com uma parte dele (competência territorial). Esses critérios são manipulados pela Constituição Federal ou pelo Código, seja para determinar a competência de cada juiz, de cada tribunal ou de cada Justiça, seja para distinguir casos em que a competência é absoluta (inderrogável0 e casos em que ela é relativa, comportando modificações[5]”.
Nesse sentido, no referido artigo 53, inciso I do Código de Processo Civil, a primeira alínea, ao dispor sobre “domicílio do guardião de filho incapaz” estabelece um critério de competência estabelecido em função da pessoa (ratione personae), pois que o que realmente importa, especificamente para a fixação da competência, é a pessoa do filho menor e não o local onde ele possui domicílio (fator de ligação), o qual apenas desperta um interesse secundário e é considerado após reconhecer sua condição de filho menor para se aferir concretamente o local em que a ação deve ser proposta.
A segunda alínea do dispositivo fala em “último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz”. Há aí um exemplo de relação da causa com o território nacional ou simplesmente de competência territorial, expressão mais afeita à doutrina clássica e tradicional, cuja crítica já se estabeleceu.
A terceira alínea menciona “domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal”. Mais uma vez, da própria análise do dispositivo, é possível verificar que se trata também de relação da causa com o território nacional, amparando-se o dispositivo na mesma classificação da alínea anterior.
Por fim, a última alínea estabelece “domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”, indicando que se trata de competência designada em razão da pessoa (ratione personae), versando especificamente sobre a mulher vítima de violência doméstica. Ressalta-se que referida alínea foi introduzida pela Lei 13.894, de 29 de Outubro de 2019 e visa fortalecer a proteção da mulher vítima de violência.
Do exposto, conclui-se que o Código de Processo Civil, quanto às ações de dissolução da unidade familiar, traz duas regras estabelecidas em razão da pessoa e outras duas estabelecidas da relação da causa com o território.
As duas alíneas que versam sobre a condição da pessoa, portanto (alíneas “a” e “d”) devem seguir ao quanto disposto no artigo 62 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”. Outra não é a conclusão, destarte, senão a de que se trata de competência absoluta e inderrogável, em que a vontade das partes não possui o condão de alterá-la.
E assim optou o legislador porque entendeu que, tanto os filhos menores, como a mulher em situação de violência, estão em situações peculiares de vulnerabilidade que justificam proteção processual igualmente peculiar, de forma que as ações que versem sobre a desconstituição da família devem ser ajuizadas no foro onde residem. A ideia é a de que haja facilitação não apenas quanto ao acesso à justiça, como também da realização de todos os atos processuais no decorrer do trâmite da relação processual.
As alíneas “b” e “c”, por sua vez, relativas à relação da causa com o território, devem observar o quanto disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil: “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Cuida-se, portanto, conforme já adiantado anteriormente, de hipótese de competência relativa, submetida à peculiar vontade das partes e passível de alteração, conforme o interesse privado dos envolvidos.
Dessa distinção, em síntese, conclui-se que caso alguma ação de dissolução da unidade familiar envolva filho menor ou mulher em situação de violência, a competência será absoluta, determinando-se que o foro competente seja o domicílio dessas pessoas, independentemente da vontade das partes. Caso pessoas nessas condições não participem da relação jurídica instaurada, a vontade das partes é a que deve predominar, tendo o legislador indicado que, via de regra, prevalece o foro do último domicílio do casal ou, caso nenhuma das partes nele resida, o foro do domicílio da parte requerida.
Traçadas essas classificações e definições gerias, começam aparecer outras polêmicas não de tão simples constatação ou solução.
Em primeiro lugar, a alínea “a” do referido artigo 53, Inciso I ora em comento fala tão somente em “domicílio do guardião de filho incapaz”. O dispositivo foi escrito de forma bastante singela e sucinta sem traçar quaisquer peculiaridades a respeito de tema tão complexo e que sofre tantas alterações sociais, relativo à titularidade da guarda de filhos menores após a desconstituição do núcleo familiar.
O primeiro questionamento que daí exsurge refere-se à dúvida se o dispositivo se refere à guarda fática ou à guarda jurídica exercida em face do filho havido em comum. Isso porque não raras vezes, as partes pretendem, logo após o desfazimento do relacionamento, regulamentar os interesses dos filhos num primeiro momento, determinando regras relativas à titularidade da guarda, à fixação do regramento de visitas e ao estabelecimento de pensão alimentícia, e apenas depois lidam com outras questões atinentes ao término da unidade familiar, como a partilha de bens, por exemplo.
E também não se mostra incomum, considerando-se que a vida não se prende aos contornos estáticos de uma decisão jurídica, que a guarda fática do filho seja alterada nesse lapso, sem que tenha sido ajuizada nova ação de modificação de guarda.
Quanto a esse ponto, deve-se interpretar o dispositivo em comento sob o viés teleológico, esmiuçando a própria razão fundante de ter sido estabelecida referida norma de competência em razão da pessoa do filho menor. Consoante já se expôs, as normas de competência absoluta estabelecidas em favor da pessoa sempre visam à proteção e à facilitação da prática de atos processuais. E nesse sentido, seria contraproducente entender pelo formalismo da guarda jurídica quando essa não mais condiz à realidade, situação que retiraria do filho menor a proteção prevista pela normativa.
Referido entendimento também possui guarida no quanto disposto no artigo 147 do Estatuto da criança e do adolescente, em que se determina que o foro competente deve ser o lugar onde se encontra a criança ou adolescente. A disposição do ECA, ainda que trate da hipótese de falta eventual dos pais (situação que não se ajusta adequadamente à análise aqui exposta), mostra-se em consonância à pretensão de se dar efetiva proteção ao filho menor, conforme princípio constitucional de prioridade absoluta dos interesses do menor.
Assim tem entendido a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AOS AVÓS MATERNOS E À GENITORA EM DUAS DEMANDAS DISTINTAS. ART. 147, ECA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, não se podendo olvidar que o princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor é orientador das regras desse estatuto e, por conseguinte, dos critérios previstos nesse dispositivo legal. Neste sentido, a Súmula 383 do STJ: "A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".
2. Em tal contexto, não se podem adotar, de forma automática, as regras processuais civis se elas puderem acarretar qualquer prejuízo aos interesses e direitos do menor, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento implica a sobreposição e aplicação do princípio da proteção integral, que permeia as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.
3. No caso concreto, consignou-se a prolação de liminares por juízos distintos deferindo a guarda provisória do menor aos avós maternos e à genitora, respectivamente, devendo-se aplicar a regra do art. 147, II, do ECA, qual seja a do local onde a criança se encontra atualmente, em atenção ao princípio do juízo imediato, máxime porque não há provas contundentes, no atual estágio, de que a genitora tenha se valido de subterfúgio a fim de afastar o Juízo natural. Ao revés, há indicativos da prática de violência doméstica, ainda que sem provimento judicial definitivo.
4. Dessarte, em face do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor, orientador dos critérios do art. 147 do ECA, mais adequada a declaração de competência do Juízo do local onde se encontra atualmente o menor.
5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida, que declarou a competência do Juízo do local onde se encontra o menor.
6. Agravo interno a que se nega provimento[6]”.
Não há dúvidas, portanto, de que a melhor técnica interpretativa é aquela que considera como competente o domicílio do guardião de fato, ainda que a outra parte seja a titular da guarda jurídica do filho em comum.
Questão menos simples de ser esclarecida e que gera maiores polêmicas refere-se à hipótese de ter sido fixada, em favor de ambos os pais, a guarda compartilhada. Como, então, estabelecer o foro competente, quando o legislador, ao estabelecer a regra de competência, pensou tão somente no clássico instituto da guarda unilateral?
O renomado processualista Pablo Stolze Gagliano, ao se debruçar sobre o tema, traçou o entendimento de que se tratando de hipótese de guarda compartilhada, não seria aplicável a previsão contida na alínea “a” do art. 53, I, do CPC, de forma que deveria valer a norma subsidiária insculpida na alínea “b” do dispositivo, ou seja, seria competente o foro do último domicílio do casal. Assim dispõe o ilustre autor:
“Ao estabelecer, no art. 53, I, a, do CPC-2015, que o juízo competente para o processamento e o julgamento de "divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável" é aquele cujo foro abrange o lugar em que tem domicílio o "guardião de filho incapaz", o legislador manifestou, claramente, a sua opção: havendo, entre as partes, uma que é guardiã de filho incapaz e outra que não é, a proteção deve recair sobre aquela que tem a guarda. Este painel fático, todavia, não pode ser confundido com a situação em que ambas as partes têm a guarda, que é o que se dá quando a guarda é compartilhada (CC, arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634). Assim, havendo guarda compartilhada, a situação fática não se subsome à previsão do inciso I, a, do art. 53 do CPC-2015, o que deve remeter o intérprete para a norma a ser subsidiária e imediatamente aplicada: é competente o juízo cujo foro abranger o lugar do último domicílio do casal (art. 53,I, b)[7]”.
A solução apresentada pelo notável processualista, no entanto, não parece ser a melhor. Isso porque uma vez estabelecida pelo legislador uma hipótese de competência absoluta em razão da pessoa, e estando configurada essa hipótese no caso concreto, não parece razoável ignorar o comando legal e aplicar subsidiariamente norma de competência de viés territorial. Ademais, também não merece prosperar o entendimento de que o teor da alínea “a” apenas se aplicaria quando apenas um dos pais teria a titularidade da guarda unilateral do filho, interpretação por demais restritiva e que afronta a efetiva proteção processual do filho.
A mácula legislativa parece, mais uma vez, estar mais ligada à falta de previsibilidade das constantes evoluções sociais que embasam o instituto da guarda, como elemento de proteção dos filhos, do que à intenção (até injustificável) de aplicar a norma tão somente quando caracterizada a guarda unilateral.
Conforme leciona Rolf Madaleno:
“[a guarda compartilhada] é a partilha da guarda jurídica, da autoridade de pai, que não se esvai pela perda da companhia do filho e em troca de visitas decorrentes da separação dos pais, contudo, para que a guarda conjunta e legal tenha resultados positivos faz-se imprescindível a sincera cooperação dos pais, empenhados em transformarem suas desavenças pessoais em um conjunto de atividades voltadas a atribuir estabilidade emocional e sólida formação social e educativa aos filhos criados por pais separados, contudo, estando ambos os genitores sinceramente voltados e focados com os interesses superiores do filho[8]”.
E para salvaguardar os interesses do filho que fica submetido à guarda compartilhada, o artigo 1.583, § 3º determinou que fosse sempre designado o “domicílio-base” do menor, nos seguintes termos: “§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos”.
Entendemos que referida exigência é de natureza cogente, pois que se consubstancia em disposição que zela pelos interesses de crianças e adolescentes, mostrando-se dispositivo essencial para sua efetiva proteção. Referida previsão legal possui o escopo de salvaguardar o menor, atribuindo-lhe um local de referência não apenas para se sentir individualmente estabelecido em um espaço determinado, como também para viabilizar o fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo, ainda, eventuais atos de alienação parental que possam eventualmente ser praticados por qualquer dos genitores. Nesse sentido:
“Assim, resta demonstrado, de forma irrefutável, que, seja qual for o tipo de guarda implantada, unilateral ou compartilhada, qualquer que seja a espécie de domicilio fixada para os menores, simples, no lar de apenas um dos genitores, ou múltiplo, se faz imprescindível que no acordo ou decisão judicial conste de forma expressa afixação da cidade base de moradia dos filhos, visando garantir a estes a formação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e afetivos, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, a salvo de quaisquer interferências ilegais ou arbitrárias, bem como no intuito de prevenir atos de alienação parental e qualquer espécie de abuso de direito por parte dos guardiões[9]”
Considerando-se, destarte, a obrigatoriedade da fixação do domicílio-base, esse deve ser o considerado para a fixação da competência, conforme estabelecido pela alínea “a” do art. 53, I, do CPC.
Referida conclusão harmoniza a noção de guarda compartilhada com a proteção processual da criança e do adolescente quando da fixação da competência para ação de desconstituição da unidade familiar.
Cabe ressaltar, ainda, que é possível se deparar com a hipótese de que a decisão que fixou a guarda compartilhada tenha deixado de estabelecer o domicílio base da criança ou do adolescente. Isso não significa, todavia, que inexista domicílio de referência, considerando-se que, em termos práticos, sempre haverá o local com que o jovem mais se identifica e onde firma suas referências afetivas, sociais e comunitárias.
Nesse caso, mostra-se mais adequado que a parte autora, ao selecionar o foro em que pretenda ajuizar a demanda justifique, como matéria preliminar, a existência desse domicílio base “fático”, que deverá ser o norte para a seleção da competência.
É certo que, em sede contestatória, considerando-se que o atual Diploma Civil permite a alegação de incompetência absoluta como preliminar de contestação (art. 64 do CPC), a outra parte poderá impugnar o foro escolhido, sustentando que o domicílio base indicado pela parte demandante não é o que corresponde à realidade, requerendo-se, dessa forma, a alteração da competência elegida pelo demandante.
A mesma situação sucede, em analogia à discussão entre guarda fática e guarda jurídica, quando houver discrepância entre o domicílio base fixado judicialmente e o domicílio base verificado em termos fáticos. Há de prevalecer, consoante já se argumentou, em consonância com o quanto disposto no artigo 147 do ECA e com o princípio do superior interesse da criança e do adolescente, a realidade em que se encontra o menor, cabendo, evidentemente, à parte demonstrar referida alegação.
Mais uma vez, confirmando a tese aqui exposta, o C. STJ já decidiu, ao analisar temática afeita à prorrogação da competência, que há de ser dada primazia e efetividade ao domicílio do menor em que ele efetivamente exerça com regularidade e habitualidade seu constitucional direito à convivência familiar e comunitária:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. HIPÓTESE CONCRETA. PECULIARIDADES. MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência é fixada no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC/1973) e, à luz do Código de Processo Civil de 2015, no instante do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC/2015). 2. A modificação da competência relativa não pode ocorrer de ofício pelo juiz em virtude da regra da perpetuação da jurisdição. 3. O princípio do juiz imediato está consagrado no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no Estatuto é determinado pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 4. A jurisprudência do STJ firmou a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC/1973 diante da incidência do art. 147, I e II, do ECA, no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, respeitadas as peculiaridades do caso concreto. 5. Na hipótese dos autos, há circunstâncias aptas a manter a competência do juízo do momento da propositura da ação, pois o que pretende o recorrente, por vias indiretas, é o acolhimento da exceção de suspeição previamente rejeitada pelas instâncias de origem, agindo com o intuito de procrastinar a ação de guarda dos filhos do ex-casal ajuizada pela recorrida. 6. Recurso especial não provido[10]”
Questão que apresenta solução ainda mais difícil e complexa de ser alcançada refere-se à aferição da competência para o ajuizamento de ação de dissolução da unidade familiar quando subsiste filho menor em comum e que já tenha sido estabelecida a guarda alternada.
“A guarda alternada caracteriza-se pela possibilidade de cada um dos pais de ter a guarda do filho alternadamente, segundo um ritmo de tempo que pode ser um ano, um mês, uma semana, uma parte da semana, ou uma repartição organizada dia a dia e, conseqüentemente, durante esse período de tempo de deter, de forma exclusiva, a totalidade dos poderes-deveres que integram o poder paternal. No termo do período os papéis invertem-se[11]”.
O instituto da guarda alternada tem sofrido diversas críticas justamente porque tende a dissolver um ideário de identificação e de referência afetiva e social da criança e do adolescente em seu processo de formação. Todos os argumentos expostos em relação à defesa da obrigatoriedade da fixação do domicílio base já mencionados podem também ser considerados para enfatizar a crítica que faz à guarda alternada.
O instituto atende mais aos interesses e à disponibilidade dos genitores do que aos dos próprios filhos.
Não obstante todos os reveses estabelecidos, a guarda alternada é uma realidade que pode trazer dificuldades de aferição da competência quando do processamento da ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou reconhecimento ou dissolução de união estável.
Isso porque a principal característica dessa espécie de guarda é a de vincular ao filho os mesmos domicílios de seus genitores, de forma que o jovem fique alternando entre eles por períodos determinados. Ou seja, o conceito de guarda alternada atrela-se justamente à alteração periódica e ordenada do domicílio base da criança ou do adolescente. E daí advém a dificuldade, se considerarmos que na grande maioria dos casos os genitores não residem conjuntamente, podendo, ademais, residir em comarcas distintas.
Nessa hipótese, há de se considerar, inicialmente, que, mesmo tendo sido fixada a guarda alternada, na prática e na maioria dos casos, o jovem deve se identificar com um domicílio específico e nele estabelecer seus ideários de referência. Tal hipótese se verifica principalmente quando se trata de adolescente, em que os laços sociais e afetivos já são mais sedimentados do que quando criança, não obstante ainda esteja em processo de formação e desenvolvimento.
Nesses casos, não há dúvida de que se deve privilegiar referido domicílio base de fato, cabendo a exposição das razões que assim o determinam, exatamente como se sucede na hipótese de guarda compartilhada em que não se tenha fixado judicialmente o domicílio base.
No entanto, nem sempre tal circunstância é possível de se averiguar, especialmente quando se trata de criança de tenra idade. Caracterizada referida situação, há de se considerar novamente o viés teleológico da norma processual protetora estabelecida em favor da pessoa do filho.
Estabelecido, então, que não subsiste domicílio base do filho ou que as condições fáticas tornam impossível tal identificação, é de se entender que o filho restará protegido independentemente do domicílio em que a ação for proposta, desde que, evidentemente, qualquer um desses domicílios escolhidos seja o local em que um dos genitores efetivamente resida.
E disso se conclui que a referida norma protetiva não mais possui campo de incidência, de forma que perde sua função primordial de proteger o filho, uma vez que, independentemente do local em que a ação for ajuizada, o jovem poderá participar dos atos processuais quando estiver na companhia do respectivo genitor.
Inexistindo razão precisa e concreta para a incidência normativa, então, há de se proceder com a observância das demais regras estabelecedoras da competência: local onde o casal estabeleceu, por último, seu domicílio ou o domicílio do réu, desde que, reitera-se, em ao menos um deles os genitores efetivamente residam com o filho.
Hipótese com que também pode o operador se deparar refere-se à possibilidade em que o filho menor em comum encontra-se sob a guarda jurídica de terceira pessoa, que não os próprios genitores.
Nesse caso, há de se diferenciar se na ação de dissolução da unidade familiar as partes pretendam discutir algum interesse do filho. Isso porque, não raro, quando a titularidade da guarda é atribuída para terceira pessoa diferente dos genitores, independentemente das causas que determinaram a situação, normalmente o processo em que se discute a colocação do menor em família substituta precede o término da unidade familiar entre os genitores. E nesse caso, toda a proteção e os interesses da criança e do adolescente tendem a ser esgotados na discussão dessa ação anterior.
Portanto, se a ação de dissolução do núcleo familiar não trouxer discussão ou disputa quanto aos interesses do filho, tampouco qualquer matéria afeita a seus direitos (como fixação de alimentos, regulamentação de visitas, acompanhamento escolar, etc) deve-se seguir as normas básicas de estabelecimento da competência, em especial as determinadas nas alíneas “b” e “c” do artigo 53, inciso I, do Código de Processo civil.
No entanto, caso a ação envolva os interesses do filho, ainda que não necessariamente a fixação da titularidade da guarda, não há dúvidas de que competente deva ser o foro do guardião do menor, independentemente de onde residam os pais.
A situação, na realidade, subsume-se direta e exatamente ao quanto disposto na alínea “a” do artigo 53, inciso I do CPC.
Por fim, há ainda de se considerar a possibilidade de eventual conflito entre as alíneas “a” e “d” do referido artigo 53, inciso I do CPC. Imaginemos a hipótese em que o genitor é o guardião do filho em comum, mas a mãe é vítima de violência doméstica perpetrada por esse mesmo genitor. Consideremos, ainda, que a genitora não pretende assumir a guarda do filho em comum que, adolescente, tenha manifestado interesse em continuar residindo com o pai e mantendo-se submetido à sua guarda.
Haveria, nessa situação, um aparente conflito entre a norma de competência que prevê a proteção do filho menor e aquela que estabelece proteção à mulher em situação de violência, considerando-se que ambas as hipóteses se qualificam em razão da pessoa protegida e possuem caráter absoluto e inderrogável.
Inicialmente, quanto ao aparente conflito de normas, há de se analisar o conjunto sistemático das regras que envolvem o assunto, em especial a legislação específica estabelecida para a proteção da mulher vítima de violência doméstica.
Nesse sentido, o artigo 13 da Lei n. 11.340/2006 que assim dispõe:
“Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei”.
O dispositivo, portanto, enuncia expressamente o critério da especialidade que deve prevalecer quando se deparar com eventual conflito de regras, dentre as quais a de competência, como ora discutido. O dispositivo é taxativo ao estabelecer preferência para a proteção da mulher, inclusive quando houver referências às regras protetivas da criança e do adolescente.
Além disso, há de se considerar que, configurando-se a hipótese em que a mulher se encontra em situação de violência, o art. 14-A, também incluído pela Lei n. 13.894, de 29 de Outubro de 2019, confere à mulher a possibilidade de ajuizar a ação no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher: “Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.
A lei, portanto, também confere à mulher não só a hipótese de competência absoluta (ratione personae) em razão de sua situação de violência, como também lhe atribui a possibilidade de optar pela competência funcional, escolhendo a Vara da Família ou o Juizado de Violência Doméstica.
Não olvidemos, aliás, também do artigo Art. 4º da mencionada Lei n. 11.340/2006 que assim determina: “Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
De tais dispositivos, é possível concluir que, havendo o conflito entre a escolho de competência protetiva do filho menor e a da mulher em situação de violência, esta última deve prevalecer.
Analisando-se a questão sob o viés principiológico, há de se considerar também que a razão fundante da proteção em ambos os casos é essencialmente distinta e dessa distinção é possível estabelecer um juízo de sopesamento para se aferir qual deverá prevalecer no caso concreto.
Em geral, é possível afirmar que a razão da proteção conferida aos filhos se justifica em facilitar o acesso ao processo e à realização de atos processuais, como audiências, realização de estudos técnicos, busca e apresentação de documentos pertinentes à matéria discutida, etc.
Relativamente à proteção da mulher em situação de violência doméstica, a salvaguarda visa a conferir não apenas a viabilidade do trâmite processual, que nesse caso assume relevância secundária, mas, principalmente, a defesa de sua integridade física e psíquica, evitando que se locomova para local distinto de seu domicílio para a busca de assistência jurídica ou da realização de atos processuais.
Não há como enfrentar a situação exposta, senão pelo sopesamento dos princípios envoltos pelo âmbito de aplicação de ambos os dispositivos. E daí se afere que o afastamento da regra protetiva do filho (alínea “a”) deve se mostrar, conforme análise e justificativa a ocorrer em cada caso concreto, útil, necessário e proporcional em sentido estrito para garantir o direito à vida, à dignidade e à segurança da mulher.
Não há dúvidas, portanto, seja pela análise do conflito de regras ou pelo conflito de princípios, que a disposição inscrita na alínea “d” do artigo 53, I, do CPC prevalece sobre a alínea “a”, caso haja oposição entre elas.
Evidentemente, as questões que envolvem as dúvidas e as polêmicas intrínsecas à aferição da competência em ações de dissolução da unidade familiar tendem a se alastrar conforme os institutos de Direito de Família também evoluem, em consonância à realidade social em que se encontram imergidos.
Ao se debruçar no estudo do Direito de Família, é preciso estar constantemente atento às referidas transformações, não apenas para melhor compreender e interpretar o direito material, como também para buscar o sentido e a mais plena efetividade das normas processuais a ele atinentes, como se pretendeu mostrar no presente artigo, tomando-se como referência as normas relativas à fixação da competência, tais quais indicadas no Código de Processo Civil.
Notas
[1] BERMUDES, Sergio, Introdução ao Processo Civil, 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 62-63.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 10 ed., Salvador, Juspodium, 2018, p. 218.
[3] DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 8ª edição, Volume I, São Paulo, Malheiros, 2016, pp. 622.
[4] DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 8ª edição, Volume I, São Paulo, Malheiros, 2016, pp. 680/681.
[5] DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 8ª edição, Volume I, São Paulo, Malheiros, 2016, pp. 680/681.
[6] STJ, AgInt no CC 156392 / BA, Segunda Seção – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJE: 30/09/2019.
[7] Disponível em:https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/195697228/o-novo-cpc-e-o-direito-de-familia-por-pablo-stolze-gagliano
[8] MADALENO, Rolf, Direito de Família, 10ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2020, p. 465.
[9] SALZER E SILVA, Fernando, Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/266034/guarda-de-filhos-obrigatoriedade-da-fixacao-do-municipio-que-sera-considerado-como-base-de-moradia-dos-menores
[10] STJ. REsp 1576472/RJ. Terceira Turma. Ministro RicardoVillas Bôas Cueva. DJe 22/06/17).
[11] GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pg. 106.