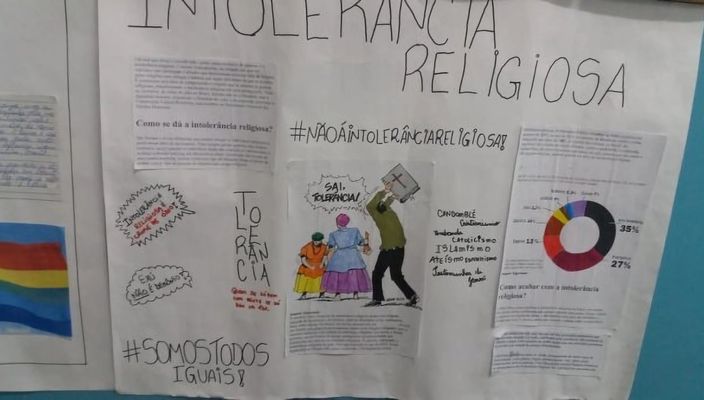INTRODUÇÃO
O Direito à Educação somente prospera no seio democrático, uma vez que não há educação sem liberdade. Em outro cenário político e cultural, que não seja democrático, vigoram as regras da exceção e do arbítrio, como formatura de um verdadeiro Estado de Exceção, em que as mentes e as consciências são amalgamadas por condicionamentos que levam ao adestramento da própria capacidade cognitiva e analítica. Simplesmente, porque não há ciência sem crítica e nem educação sem liberdade.
No Brasil, a democracia ressurgiu e se afirmou com o Estado Democrático de Direito sob a guarda da Constituição Federal de 1988 e, por isso, é nesses moldes em que se deve apurar a hermenêutica constitucional democrática acerca dos artigos 205 e 206 da CF/88. Toda ação executiva, legislativa ou judicial que não se alinhe a esta hermenêutica constitucional democrática se encontra sob a mesma conotação de excepcio. No texto será tratado o fenômeno político denominado por ora processo de adaptação ou ainda reformulação constitucional que, na verdade, constitui-se de uma prática antiga: o Cesarismo Constitucional ou Cesarismo Plebiscitário e que é composto por reformulações constitucionais, ao sabor do realismo político, que impõem a forma sobre o conteúdo e modificam a qualidade, o oposto do que pretende o Poder Constituinte originário.
Pela imposição de profunda mudança na quantidade do realismo político, transforma-se a espécie pela mutação do gênero. A investigação é de caráter conceitual, exploratória e de análise conjuntural. Como se perfaz um período em que ainda estamos vivenciando as experiências de “politização do Judiciário”, como efeito longa manus do realismo político – especialmente no condão do Poder Executivo –, os resultados iniciais demonstram graves distorções das funções republicanas no que tange ao Estado de Direito: sem clara divisão de poderes, não há sobrevida aos direitos fundamentais.
É com este propósito que se apresenta este parecer consubstanciado, em que se utilizou a metodologia de “um estudo de caso”, para demonstrar quanto um episódio pode ser muito revelador das condições que afetam o contexto global. O resultado auferido é um ensaio monográfico em defesa da Constituição Federal de 1988 (aqui denominada de Carta Política) e do Estado Democrático de Direito. Para efeito didático, a monografia está dividida em duas partes: I – Do Corpus Teórico; II – A Legislação Democrática. Trata-se, enfim, de uma monografia político-jurídica em defesa da liberdade de cátedra.
Do relato do caso
Na EMEB Carmine Botta, como trabalho pedagógico, uma professora pediu a seus alunos que criassem cartazes ilustrativos para abordar o tema "Intolerância Religiosa". Os alunos criaram cartazes que mostram a realidade nua e crua, ou seja, mostraram a discriminação sofrida por parte de pessoas de religiões afro-brasileiras e de pessoas LGBTs. No entanto, isso virou polêmica para alguns pais evangélicos que fizeram essas imagens circularem nas redes sociais. Isto virou repercussão entre nossos vereadores evangélicos. Em seguida, professores e a coordenação pedagógica foram sabatinados por jornalistas e vereadores.
A fim de se situar o grave atentado exibido na EMEB Carmine Botta, avaliaremos, inicialmente, o que se pretende por Estado Democrático de Direito, sob a marca indelével de se notabilizar enquanto Carta Política.
1. DO CORPUS TEÓRICO
DA CARTA POLÍTICA
A Carta Política (Constituição = Carta Magna), como confluência da Política com o direito reconhecido (emancipador), seria o viés ontológico de direcionamento equilibrado do social. (Seria, porque a modernidade não é consagrada pelas suas tradições). Seria ou é quando o direito é equilíbrio: maturidade e parcimônia que levam à justiça.
Com objetivo de construção de uma racionalidade jurídica, a justiça é a balança equilibrada do direito. Portanto, para a real efetividade, atualização, de justiça construída, o direito é isonomia e equidade. Se a isonomia deve “tratar os iguais, igualmente”, a equidade equilibra as coisas ao “tratar os desiguais, desigualmente”. O discrímen do direito à igualdade (MELLO, 2005) força uma discriminação positiva, equilibrando os pratos da balança entre fracos e fortes.
Há, assim, na ação do discrímen, um nivelamento das relações sociais injustas, a fim de que a dialética entre igualdade e liberdade não se resolva na síntese da exclusão. Por sua vez, isto impõe outro ethos (costumes, valores), outra cultura, mas igualmente outra Ética. Sob este preceito atuam os Princípios Gerais do Direito, desde a formação romana do Direito Ocidental, entre civilidade e urbanidade (CÍCERO, s/d).
Este é o foro privilegiado da Política, em que os segredos da Ética, da prudência, do bom senso, enveredam-se pelo cidadão: o sujeito de direitos que só se personifica em identidade como ser social. Do egoísmo, hedonismo, cinismo, transforma-se o ser social em intersubjetividade, solidariedade, porque já é sabedor que a “expectativa do direito” não se faz sem esperança. Como se o direito líquido e certo requeresse a concretude ética. Mas, lembremo-nos sempre: ser honesto é uma obrigação, não uma virtude.
Precisamos elevar a consciência pública do direito (por óbvio, ética), a fim de levar o direito social – negado às ruas (Ágora) – para os fóruns adequados da política e do direito institucionalizados. Para quem dedica-se a estudar o Direito Constitucional – notadamente o encontro entre a Teoria Política, a Teoria do Estado e a Teoria Constitucional – este é o ponto de reflexão, de conexão, que permite avaliar a Constituição como Carta Política: superior em história, profundidade epistemológica e lógica jurídica ao ideário de Lei Maior.
Aliás, onde estão em nós a cidadania e o Princípio da Solidariedade que inauguram nossa Constituição Federal de 1988?
Enfim, este também não é o ensinamento de alguns dos maiores juristas dos séculos XX e XXI, como Bobbio (1992), Häberle (2016), Canotilho (1999)?
Por fim, cabe dizer que o direito que preserva a Ética e tem na Ontologia um eficaz remédio jurídico é portador da prevenção. Por isso é um eficaz remédio jurídico (um pharmakon) que evita a necessidade de haver socorro da Oncologia: as doenças sociais na modernidade são inevitáveis; mas, acautelando-nos, podemos tratar os males desde o início, quando ainda é possível. Esta é a ideia da salus publica. Na dosagem certa, com prudência, podemos “viralizar” a atenção e a consciência que antes só viam o vírus do malfeito. O direito é um ser vivo feito de carne e osso da história. Quando se perde de vista a Ontologia – o remédio do conhecimento – apelamos para a Oncologia, porque não são poucas as enfermidades sociais que vicejam em nossos dias.
Da Constitucionalização da Política
A análise das constituições deve ser aprofundada nos pontos em que o Texto Legal permita a passagem da democracia aos regimes de exceção; especialmente quando visualizados no bojo do caráter educativo dos Textos Constitucionais. Porém, o legislador é o ser-político e, neste caso, a hermenêutica constitucional é obra da Política, ou seja, tanto será incidente do cesarismo quanto poderá ser mais pública: quando se tratar de uma sociedade aberta (Häberle, 2008)1. A própria Constituição – coincidindo com o papel do legislador sob o Poder Constituinte Originário – decorre (e é instrumental) da dominação racional-legal advinda do próprio poder de legislar sobre consensos e coerções: “...o poder legislativo máximo reside no pessoal estatal (funcionários eleitos e de carreira), que têm à disposição as forças coercivas legais do Estado” (GRAMSCI, 2000, p. 302. – grifo nosso).
De tal modo que “desvelar, revelar” os fatos obscuros da atividade política é o único meio (método) possível à educação do povo. Trata-se do método do realismo revelador das estranhas (entranhas) do poder. Para “ler” o nosso Dreyfus temos de “ensinar” Maquiavel. Somente assim, no cenário político, será realista o apontamento dos tipos de cesarismos alocados. Alguns estão para a repressão moral do processo civilizatório, enquanto outros podem fortalecer a Carta Política.
Quando a atividade política se aproxima da Carta Política, há uma legalidade progressista que acentua os níveis ou padrões civilizatórios. Do contrário, o cesarismo regressivo é repressivo – no que também revela um dos efeitos de exceptio.
A Constituição é, portanto, para G., mais que uma norma fundamental e imutável, um texto que reflete as relações de força dentro de um Estado [...] Essa “historização” das Constituições acompanha de perto o relevo dado aos mecanismos jurídicos que são a base dos textos constitucionais [...] Por testemunhos dos companheiros de prisão sabemos que G., por volta do fim de 1930, sustenta a necessidade de uma Constituinte democrático-republicana como fase intermediária do fascismo ao socialismo (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 144-145)2.
A disciplina anteposta pela exceção – no cenário interposto pelo cesarismo regressivo – é, por natureza, extrínseca; então, falta-lhe a legitimidade apontada inclusive por Benjamin (1987, p. 225-6). Qual é a premissa da disciplina (Garantia de Lei e Ordem do capital?) nos atos de força, são progressistas e populares ou se põem a júdice da conservação do capital? Esta resposta se ajusta na Carta Política, como idealidade, mas sucumbe facilmente no realismo político. Por isso, é necessário recorrer ao julgamento realista. Neste julgamento, a forma-Estado precisa ser avaliada com seriedade, inclusive porque o bonapartismo soft (LOSURDO, 2004), é mais elevado (elaborado) do que os atos de guerra que se vê na soberania de conquista. A luta legislativa é um fato real, em todas as formas de cesarismo, a exemplo de Dreyfus ou do Federalista, entre a liberdade e a luta contra as máfias da política3, quer sejam a favor desses mesmos pecados.
Força Normativa Democrática da Carta Política de 1988
Esta vinculação entre direito e democracia equivale à natureza jurídica da Carta Política. A natureza política é a própria Polis, a Política, o espaço público (e privado) de manifestação individual e coletiva, não-excludente, em que se forma o animal político em seu "fazer-política". A verdadeira Política de inclusão, de afirmação do ser político que assim se socializa. Portanto, se a Política inclui, a natureza jurídica da Carta Política não pode ser diferente. Sua natureza jurídica deve incluir, como direito positivo, os discursos e as práticas emancipatórias de todo "fazer-política" democrático. Esta é a primeira fase - afirmar constitucionalmente apenas direitos democráticos -, digamos assim, para que se inicie a base conceitual da Carta Política.
Em seguida, como Força Normativa, a Constituição (como Carta Política) deve se servir integralmente do Princípio do Império da Lei, a fim de que a democracia inclusiva (portanto, popular) seja jurídica e fática. Construindo-se pilares jurídicos e culturais (inclusivos e participativos) para que a própria Constituição Democrática possa ser implementada, aprofundada e defendida com vigor. Como uma virtus democrática da salus publica (virtù).
De tal modo, se bem reconhecermos que o direito democrático é de sua essência, isto é, fundamental à Constituição, logo entenderemos que os direitos humanos fundamentais têm exatamente a mesma correspondência para a "melhor virtude" da Carta Política.
Portanto, a Constituição Democrática, como Império da Lei democrática, efetiva-se tão logo se tenha um Estado Material de Direito, em que seja de legítimo direito a materialização mais profunda da democracia.
Neste sentido, a Carta Política é radical, indo às extremidades mais profundas das raízes democráticas: em que o animal político se torna sujeito de direitos, na transformação do dissenso em consenso regulado pelo direito.
Por fim, a Força Normativa Democrática da Constituição corrobora com o escopo da democracia inclusiva, e que tem por razão inicial o direito legitimado pelo processo civilizatório. Pois, só há civilização onde prospera a humanização. Do contrário, afirma-se a razão instrumental do mesmo direito que sustenta as constituições não democráticas.
Trata-se de uma natureza jurídica que se constrói politicamente; do dissenso democrático (que exclui de per si a intolerância à democracia) ao consenso legítimo do direito. O Estado de Direito Democrático de Terceira Geração é a forma estatal condizente com a Carta Política. Porque é a forma-Estado em que o presente resolve democraticamente as heranças do passado (Modernidade Tardia) e prospecta o futuro. É a forma política em que cultura e teleologia têm planos comuns.
É a maneira político-jurídica de o presente repelir a miséria humana provocada pelo capital predatório articulando-se com uma educação para o futuro: uma educação crítica e permanente na busca pelo conhecimento científico e tecnológico transformador do presente. É um tipo de Estado que não se contenta com o que se tem, ainda que seja um programa por realizar.
A Carta Política, então, lhe cabe como farol e obrigação de fazer e de zelar. Neste aspecto, a Carta Política é (nomologicamente) um "fazer-sendo", pois é a partir do "fazer-política" democrático que se garante e se aprofunda, concomitantemente, a Política, reserva institucional da Carta Política - como provedora de legitimidade ao direito democrático.
Assim, sob a Carta Política, o direito, a política democrática e a teleologia estão articulados na forma do Estado de Direito Democrático de Terceira Geração - tanto em termos da Razão de Estado, redesignada pela cultura democrática, quanto pelo Império da Lei (Estado de Direito) que emana com vigor da Força Normativa Democrática da Carta Política.
Em 2018 comemora-se trinta anos da Constituição Federal, apelidada de “Constituição Cidadã”, pois tem uma condição promotora da cidadania, com foco na identificação, defesa e promoção dos direitos fundamentais individuais e sociais. De natureza jurídica programática – construir e fortalecer a cidadania no bojo do Processo Civilizatório, vale dizer, com respeito integral aos direitos humanos – a Constituição Federal de 1988 alinha-se à propugnada Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, declaração de direitos que, também em 2018, celebra 70 anos de orientação ética ao convívio humano social. Esta tendência já vinha expressa em outras constituições pelo mundo. A Constituição de Bonn, da Alemanha de 1949, pós-regime nazifascista, pactuou o Princípio Democrático, apontando que qualquer ação do Executivo ou do Legislativo que ferir a democracia será considerada crime. A Constituição Iugoslava (1953), seguida das constituições Portuguesa (1976) e Espanhola (1978), reafirmou os compromissos do Estado Social como caminho salutar de convívio ético e civilizatório, obrigando-se ao Poder Público patrocinar meios e mecanismos necessários e eficazes ao descortínio de formas incrementadas de sociabilidade. Portanto, a Constituição é algo específico. Na modernidade clássica, do Estado Moderno até fins do Estado Social nas décadas de 60-70, o Estado de Direito transbordou valores que deveriam assegurar a inviolabilidade dos direitos fundamentais:
O Estado de Direito transporta princípios e valores materiais razoáveis para uma ordem humana de justiça e de paz. São eles: a liberdade do indivíduo, a segurança individual e coletiva, a responsabilidade e responsabilização dos titulares do poder, a igualdade de todos os cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos [...] e competências que permitam falar de um poder democrático, de uma soberania popular, de uma representação política, de uma separação de poderes, de fins e tarefas do Estado [...] Trata-se: (1) de um Estado de direito; (2) de um Estado constitucional; (3) de um Estado democrático; (4) de um Estado social; (5) de um Estado ambiental (CANOTILHO, 1999, p. 21-22 – grifo nosso).
De acordo com José Afonso da Silva (1991), os princípios constitucionais em que se assenta o Estado Democrático de Direito, no Brasil, podem ser assim resumidos:
a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição rígida4, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, como a garantia de atuação livre de regras da jurisdição constitucional;
b) princípio democrático que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º);
c) sistema de direitos fundamentais que compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII);
d) princípio da justiça social referido no art. 170, caput, e no art. 193, como princípio da ordem econômica e da ordem social5 (...);
e) princípio da igualdade (art 5º, caput, e I);
f) princípio da divisão de poderes (art. 2º) e da independência do juiz (art. 95);
g) princípio da legalidade (art. 5º, II); h) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXIII) (SILVA, 1991, p. 108).
Teremos a oportunidade de analisar daqui para frente, especialmente nas duas últimas partes, o fato de que o modelo nunca enfrentou uma crise conceitual, teórica, nem no Brasil, nem em Portugal. Pois trata-se, isto sim, de uma profunda crise econômica, social e política que assola principalmente os países pobres ou em desenvolvimento. Para outros autores, a dinâmica ou os marcos históricos que conformam o Estado Democrático de Direito no pós-guerra, no entanto, podem ser outras, como salienta Jorge Miranda (1997). São quatro as linhas de força dominantes na sequência imediata das duas guerras mundiais.
- O aparecimento e, depois, o desaparecimento de regimes autoritários e totalitários de diversas inspirações;
- A emancipação dos povos coloniais, com a distribuição agora de toda a Humanidade por Estados – por Estados moldados pelo tipo europeu, embora com sistemas político-constitucionais bem diferentes;
- A organização da comunidade internacional e a proteção internacional dos direitos do homem (MIRANDA, 1997, p. 90-91 – grifo nosso).
Porém, mesmo que Jorge Miranda (1990) ressalte outros aspectos dessa profunda transformação pela qual passou o Estado ao longo do século XX – como a luta pela emancipação dos povos coloniais, além da resposta dada aos regimes autoritários e a prevalência dos direitos humanos.
Konrad Hesse e a força da Constituição legítima
Em resumo preliminar: a Constituição tem força normativa em sua eficácia; é contributo precípuo na definição de direitos e deveres (o ser e o dever-se); deve ser enxuta, com resguardo aos direitos fundamentais e normativas de organização administrativa do Poder Político. A Constituição deve seu primado ao Princípio da Ótima Concretização da Norma Constitucional; a interpretação constitucional não deve se render ao realismo político; as reformas constitucionais constantes retiram sua pretensão de validade; a efetivação da força normativa constitucional constitui-se na meta primeira do Direito Constitucional6 a fim de que não se convertam as questões jurídicas (Rechtsfragen) e, a própria Constituição, em desvio de questões de poder (Macht Fragen); a tarefa de preservar a “vontade de Constituição” cabe a todos nós.
Em síntese, pode-se afirmar:
[...] a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. As possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen) [...] A Constituição jurídica não significa simples pedaço de papel, tal como caracterizada por Lassale. Ela não se afigura “impotente para dominar, efetivamente, a distribuição de poder”, tal como ensinado por Georg Jellinek e como, hodiernamente, divulgado por um naturalismo e sociologismo que se pretende cético (HESSE, 1991, p. 24-25).
Aqui se combinam três fases, elementos ou gerações operativas em prol da Vontade de Constituição: realçar, despertar e preservar a força normativa da Constituição. O que força e garante uma Constituição legítima e democrática é um rol de pré-requisitos políticos, normativo-constitucionais, ontológicos e teleológicos. Este é o caso específico do Princípio da Ótima Concretização da Norma – pari passu à regra da “bilateralidade da norma jurídica”, como autocontenção do Poder Político (MALBERG,2001)
A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade [...] A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser [...] Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana [...] Abstraídas as disposições de índole técnico-organizatória, ela deve limitar-se, se possível, ao estabelecimento de alguns poucos princípios fundamentais [...] Finalmente, a Constituição não deve assentar-se numa estrutura unilateral, se quiser preservar a sua força normativa num mundo em processo de permanente mudança político-social [...] A frequência das reformas constitucionais abala a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a sua força normativa [...] A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm) [...] A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação (ibid., p.14-23 – grifo nosso).
Por conseguinte, em suas relações com os administrados, a autoridade administrativa não deve somente abster-se de atuar contra legem senão que ademais está obrigada a atuar somente secundum legem, ou seja, em virtude das habilitações legais. Finalmente, o regime do Estado de Direito implica essencialmente que as regras limitantes que o Estado impôs a si mesmo, em interesse de seus súditos, poderão ser alegadas por estes da mesma maneira que se alega o direito, já que somente com esta condição terão de constituir, para o súdito, verdadeiro direito [...] O regime do Estado de Direito significa que não poderão impor-se aos cidadãos outras medidas administrativas, que não sejam aquelas que estejam autorizadas pela ordem jurídica vigente, e, por conseguinte, exige-se a subordinação da administração tanto aos regulamentos administrativos quanto às leis (MALBERG, 2001, p. 449-461 – tradução livre – grifo nosso).
A organização do poder mediante o direito é, assim, garantia de que o Princípio Democrático (CANOTILHO, s/d) não sucumbirá vítima do assim chamado “realismo político”, a exemplo da Constituição de Weimar (1919).
A resposta à indagação sobre se o futuro do nosso Estado é uma questão de poder ou um problema jurídico depende da preservação e do fortalecimento da força normativa da Constituição, bem como de seu pressuposto fundamental, a vontade de Constituição. Essa tarefa foi confiada a todos nós (HESSE, 1991, p. 32).
Dessa forma, concluímos que se trata de um real Estado Constitucional. Historicamente, confunde-se razoavelmente o Estado Constitucional à luta pelo direito. Em todo caso, há uma correspondência com a necessidade de se afirmar as garantias jurídicas na Constituição:
O Estado Constitucional implica um comprometimento do Estado administrador pelos órgãos legisladores, um “autocomprometimento do Estado”, e, como sua consequência, direito dos súditos contra o Estado como tal, “direitos subjetivos, públicos” (RADBRUCH, 1999, p. 167-168).
Estado Constitucional significa Estado assente numa Constituição reguladora tanto de toda a sua organização como da relação com os cidadãos e tendente à limitação do poder (MIRANDA, 2000, p. 86).
O Estado é organização. Desde meados do século XX, a estrutura estatal vem sofrendo embargos propriamente democráticos ao poder central, em que o Poder Político surge em correspondência à sociedade: “A organização estatal é aquele status renovado constantemente pelos seus membros, ao que se juntam organizadores e organizados” (HELLER, 1998, p. 301).
A Constituição tem de ser aporte (ético) e suporte (democrático) contra o arbítrio, o casuísmo e o oportunismo do realismo político, em face e em prol da defesa da Democracia, da sociabilidade política (Polis), da República e como evidente corolário de princípios que impeçam toda e qualquer possibilidade de regresso do processo civilizatório.
Se os pressupostos da força normativa encontrarem correspondência na Constituição, se as forças em condições de violá-la ou de alterá-la mostrarem-se dispostas a render-lhe homenagem, se, também em tempos difíceis, a Constituição lograr preservar sua força normativa, então ela configura verdadeira força viva e capaz de proteger a vida do Estado contra as desmedidas investidas do arbítrio (HESSE, 1991, p. 25).
Como Carta Política será freio moral-social diante das investidas do Cesarismo regressivo (Gramsci, 2000) com imbricação nos três poderes: Cesarismo de Estado. Destaque-se que “o cesarismo sempre expressa a solução ‘arbitrária’, confiada a uma grande personalidade, de uma situação histórico-política caracterizada por um equilíbrio de forças de perspectiva catastrófica, nem sempre tem o mesmo significado histórico” (GRAMSCI, 1980, p. 71).
DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Estado Democrático de Direito Social
Como prevê Canotilho (s/d), ainda deveremos continuar a ouvir das características do Estado Constitucional Democrático de Direito, como premissas para entendermos o andamento do Estado atual em boa parte do mundo. Canotilho (s/d) se ampara nos elementos de sua formação: a) domesticação do domínio e do poder político; b) ampliação da base dos direitos políticos. Além de duas razões subsequentes:
No entanto, ele continua a ser um modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões do Estado como comunidade juridicamente organizada: (1) o Estado é um esquema aceitável de racionalização institucional das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia política de equilíbrio político-social através da qual se combateram dois “arbítrios” ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais (CANOTILHO, s/d p. 90).
Porém, mesmo diante dessas observações, podemos dizer que no Brasil, mesmo no meio acadêmico e jurídico, o tema não recebeu tratamento adequado, que ultrapassasse os limites dos manuais: ninguém o estudou de fato. Entre o povo, nunca passou de palavrão – e este é apenas um traço da gravidade de nosso ensino. Enfim, o Estado Democrático de Direito não faz parte da cultura jurídica, não se enraizou com força de transformação, de mudança social.
A democracia e o Estado de Direito construídos no Ocidente, desde ao menos o Iluminismo, somente se reconhecem mediante dos Princípios Gerais do Direito e que podem ser sintetizados em: honeste vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não prejudicar ao próximo), suum cuique tribuere (dar a cada um o que lhe pertence).
Os Princípios Gerais do Direito devem ser frisados porque, na República, o objetivo deve ser a Justiça7: neminem laedere (“não prejudicar ninguém”). Na República, a norma jurídica deve objetivar e promover o bem público, visto que o ordenamento jurídico resulta do Estado, mas igualmente expressa o aparelho estatal.
Para o entendimento clássico de República, em primeiro lugar, não se seguem os mandamentos do governo dos homens, o poder tende à personificação, à idolatria: no lugar do governante há um símbolo, constrói-se um ídolo e emblemas que devem ser cultuados, um ícone que não poderá ser julgado. No governo dos homens, o poder tende à concentração e à obscuridade, porque o poder seguiria a tendência de fortalecer o governo baseado em interesses pessoais, egoístas. Requer-se o governo das leis.
O ideal republicano, portanto, resgata o elemento instituidor da República romana e que, derivado do latim, significa zelar pela coisa pública (res publica).
Em sentido complementar, por Federação se entende o predomínio dos direitos público-subjetivos; publicidade; responsabilidade; legitimidade; salus publica - saneamento da estrutura do Estado (contas públicas) implica em melhoria da saúde pública do Estado e do povo.
A combinação de ambas resulta na:
República Federativa é uma aliança política, institucional cultural 8 e administrativa de caráter permanente ou união indissolúvel entre Estados-Membros interdependentes (respeitando-se a repartição de competências ou divisão de funções, assegura-se a autonomia política, mas não a soberania, pois não se reconhece o direito de secessão), sendo capaz de gerar um governo comum e que resulte da defesa e da preservação das coisas comuns a todos (portanto, voltado à República) e, assim, também definida como esfera de poder (a União é ente federativo junto com Estados, Distrito Federal e Municípios) em que o próprio poder político é compartilhado (pela União e pelas demais entidades federadas) e, por isso, são asseguradas algumas fontes de rendimento próprio para cada esfera de competência, assegurando-se os princípios da cidadania democrática (sendo a cidadania sempre definida em relação ao Estado Federal, como direito de nacionalidade, e não em razão da localidade apontada como de nascimento, residência ou domicílio).
Na Constituição brasileira, é sabido que a Federação é definida como cláusula pétrea (defendendo a forma de Estado contra reformas ou atentados constitucionais, estando acima das vicissitudes políticas). Por seu turno, essas características da Federação foram assim resumidas por Pinho (2002):
1ª) a união faz nascer um novo Estado; 2ª) a base jurídica da Federação é uma Constituição e não um tratado; 3ª) não existe o direito de secessão; 4ª) só o Estado Federal tem soberania, pois as unidades federadas preservam apenas uma parcela de autonomia política; 5ª) repartição de competências entre a União e as unidades federadas fixada pela própria Constituição; 6ª) renda própria para cada esfera de competência; 7ª) poder político compartilhado pela União e pelas unidades federadas; 8ª) o indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasceu ou reside (PINHO, 2002, p. 02).
Por sua vez, a aproximação entre Democracia e República instaura a vigência do Princípio da Igualdade:
O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, consoante se observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e direitos (MELLO, 2005, p. 12-13).
Outro fator meramente formal, mas preponderante no Estado de Direito Republicano, é a limitação dada pelo Princípio da Legalidade:
[...] encontrar-se, em quaisquer de suas feições, totalmente assujeitado aos parâmetros da legalidade. Inicialmente, submisso aos termos constitucionais, em seguida, aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não no exercício de “poder” discricionário (MELLO, 2003, p. 10-11).
“A grande novidade do Estado de Direito certamente terá sido subjugar totalmente a ação do Estado a um quadro normativo, o qual se faz, assim, impositivo para todos – Estado e indivíduos”. (MELLO, 2003, p. 11).
A conformação da Democracia é essencial porque o povo necessita ter alguma forma de controle político, a saber, o exercício da soberania popular como mecanismo de controle institucional da própria República. Assegura-se a urgência em respeitar as regras da democracia e do Estado de Direito.
Por Democracia Política entenda-se a formalização e defesa das “regras do jogo”: a) predomínio da vontade da maioria; b) defesa das minorias; c) alternância no poder; d) sufrágio universal (coincide com uma dimensão do Estado Democrático).
Acrescente-se, ainda, a necessidade da realidade interposta pela legalidade democrática ampliada: deferência e consentimento à autoridade, e não autoritarismo ou simples culto ao poder.
Desse modo, todos esses institutos de regulação do Estado Moderno (soberania, povo, território) viriam albergados pelo Estado de Direito clássico.
Podemos entender o Estado de Direito como o Estado propenso ao Direito: “Estado de direito é um Estado ou uma forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em que o poder político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida pelo direito” (CANOTILHO, 1999, p. 11).
Em uma frase simples, podemos definir Estado de Direito a partir da estrutura estatal em que o poder público é definido/limitado/controlado por uma Constituição. Portanto, há uma maior judicialização do poder político. Também inicialmente, podemos afirmar que seus principais elementos são:
império da lei: quer dizer que a lei deve ser imposta a todos, a começar do Estado – o Estado tem personalidade jurídica e, por isso, é objeto do Direito que ele próprio produz;
separação dos poderes: significa que o Poder Executivo não pode anular o Poder Legislativo, além do que deve ser acompanhado e julgado pelo Poder Judiciário – trata-se de assegurar a interdependência dos poderes por meio da aplicação do sistema de freios e contrapesos;
prevalência dos direitos individuais fundamentais: refere-se notadamente aos direitos individuais, até os anos 20 do século XX, porque somente nesse período é que entraram em cena os direitos sociais e coletivos.
No entendimento de Miguel Reale (2000):
Por Estado de Direito entende-se aquele que, constituído livremente com base na lei, regula por esta todas as suas decisões. Os constituintes de 1988, que deliberaram ora como iluministas, ora como iluminados, não se contentaram com a juridicidade formal, preferindo falar em Estado Democrático de Direito9, que se caracteriza por levar em conta também os valores concretos da igualdade (REALE, 2000, p. 37).
A expressão Estado de Direito foi cunhada pelo jurista alemão Robert von Mohl, no século XIX, ao procurar sintetizar a relação estreita que deve haver entre Estado e Direito ou entre política e lei. Segundo Canotilho (1999), por oposição a Estado de(não)Direito, podemos entender o Estado de Direito como o Estado propenso ao Direito:
Estado de direito é um Estado ou uma forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em que o poder político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida pelo direito (CANOTILHO, 1999, p. 11).
Como vimos, Robert Von Mohl, o jurista alemão que formulou o conteúdo-base da expressão Estado de Direito, tinha em mente antes de tudo a regulação dos poderes do Estado, na esteira liberal de que a garantia dos direitos individuais seria o melhor remédio de contenção dos ímpetos centralizadores do Estado Moderno. Ou como nos diz Jorge Miranda:
Robert Von Mohl, considerado o autor que lançou o conceito, dizia que a idéia em que se fundamentava o Estado de Direito se resumia nisto: o desenvolvimento o mais humano possível de todas as forças humanas em cada um dos indivíduos (Polizei, 1841, Concepto de policia y Estado de Derecho, in Liberalismo aleman en el siglo XIX – 1815-1848, coletânea de estudos, trad., Madrid, 1987, p. 141). E acrescentava: <Ninguém pode ser sacrificado como um meio ou como uma vítima à idéia de todo> (pág. 142); <nenhum direito deve ficar sem proteção, ainda que seja demasiado insignificante para o Estado> (pág. 143); <Estado de Direito exige proteção jurídica> (pág. 144) (MIRANDA, 2000, p. 86).
Quando cita Mohl, ao dizer que “Ninguém pode ser sacrificado como um meio ou como uma vítima à idéia do todo”, Miranda (2000) está inferindo que o Estado não se sobrepõe ao indivíduo em termos jurídicos, posto que deve prevalecer e se afirmar o princípio de que vige a personalidade jurídica do Estado. O Estado é o responsável pela segurança do princípio da legalidade, da mesma forma como está submetido às suas imposições.
Mas, será retomando interpretação de Von Ihering (2002) que Aderson de Menezes (1998) irá sugerir que na Teoria da Autolimitação também se encontra a matriz doutrinária condicionante das cláusulas pétreas. Vejamos em sua análise que o Direito deve proteger a sociedade do arbítrio:
Na fase atual da vida das sociedades, os dois elementos do Direito – a coação e a norma10 – são insuficientes para criar o que chamaremos o Estado Jurídico. Falta-lhe ainda um elemento – a norma bilateralmente obrigatória – em virtude do qual o próprio Estado se inclina diante das regras que editou e às quais de fato concede, enquanto existirem, o império que por ato seu lhes atribuiu. É o que chamaremos a ordem jurídica [...] O Estado ordena, o súdito obedece [...] A linguagem compreendeu bem este fato, quando designou a injustiça do Estado pelo nome de arbítrio (Willkür). O arbítrio é a injustiça do superior; distingue-se da do inferior, porque o primeiro tem a força a seu favor, ao passo que o segundo a tem contra si [...] Noção puramente negativa, o arbítrio supõe como antítese o direito, de que é a negação: não há arbítrio, se o povo ainda não reconheceu a força bilateralmente obrigatória das normas jurídicas [...] Acompanha, pois, a todo princípio de direito a segurança de que o Estado se obriga a si mesmo a cumpri-lo, a qual é uma garantia para os submetidos ao Direito [...] Não só se trata de conter a onipotência do Estado mediante a fixação de normas para a exteriorização de sua vontade, senão que trata de refrear-lhe mui especialmente, mediante o reconhecimento de direitos individuais garantidos. Esta garantia consiste em outorgar aos direitos protegidos o caráter de imutáveis (MENEZES, 1998, p. 70-71).
Da mesma forma define Canotilho (1999), pois o Estado de Direito é um conceito altamente elaborado e dessa forma também não pode ser confundido com derivações, distorções ou deformações decorrentes do seu próprio emprego ou uso. Portanto, sendo-lhe essencial, seguindo Canotilho (1999), a divisão do poder lhe é inerente porque inibe naturalmente o arbítrio:
A separação de poderes, a garantia de direitos e liberdades, o pluralismo político e social, o direito de recurso contra abusos dos funcionários11, a subordinação da administração à lei constitucional, a fiscalização da constitucionalidade das leis [...] a publicidade crítica, a discussão e dissensos parlamentares e políticos, a autonomia da sociedade civil (CANOTILHO, 1999, p. 16).
O que Canotilho (1999) parece acentuar aqui seriam os atributos do Estado Democrático de Direito. Em suma, como proposto por Miguel Reale (2000), atualmente, o Estado de Direito deve ser regulado pela Democracia: daí a fórmula do Estado Democrático de Direito. Porém, ainda restritos ao momento da criação, para vermos o âmago do Estado de Direito devemos atentar ao brocardo jurídico formulado no contexto do Estado Moderno: suportas a lei que criastes. É o que já dizia Radbruch na década de 1930:
Se a lei pressupõe o Estado como legislador, temos que observá-lo, antes de tudo, como fonte de praticamente todo o direito. O Estado, porém, não é apenas fonte do direito, é simultaneamente produto do direito: deriva sua Constituição, e com isso sua existência jurídica, do direito público. Sendo essa Constituição do Estado ela própria uma lei do Estado, encontramo-nos diante da contradição aparentemente insolúvel de que o Estado tem como pressuposto o direito público e, por outro lado, o direito público tem o Estado como pressuposto (RADBRUCH, 1999, p. 37).
Assim, a República é uma barreira moral, a Federação é a defesa contra a prepotência, o Estado de Direito é arcabouço jurídico regulador do próprio Poder do Estado (Princípio da Bilateralidade da Norma Jurídica) e a Democracia é um conjunto de promessas que o Povo deve ansiar, bem como exigir sua concretização.
No entendimento de Estado Democrático de Direito Social, o que procuramos analisar aqui é realmente o perfil técnico-constitucional do Estado proposto pela Constituição socialista portuguesa, tendo-se em conta a consecução do socialismo que se requer para o presente-futuro e não aquele restrito às indicações do passado, sobretudo o do modelo soviético (este um tema a ser desenvolvido em trabalho posterior e distinto). Sob este prisma, o que o constituinte português objetivava era, enfim, construir as bases jurídicas de um socialismo democrático apoiado nas conquistas históricas e populares experimentadas lá mesmo em Portugal, bem como em outros países europeus. São dados que se reforçam, novamente, com Jorge Miranda (2000), ao destacar que o caminho do socialismo se faria em conexão com:
a) O desenvolvimento pacífico do processo político-social previsto, dito, umas vezes, “processo revolucionário” [...] outras vezes “transição pacífica e pluralista”;
b) O gradualismo, que reflete a necessidade de tomar em conta as condições objetivas, internas e externas, de Portugal, adequando as formas de concretização dos objetivos constitucionais às “características do presente período histórico” [...];
c) O caráter não autoritário e nem sequer determinante (ou exclusivamente determinante) da intervenção do Estado no processo de transição – o Estado “abre caminho”, “assegura a transição”, e não propriamente o socialismo: “cria condições”, não impõe soluções prefixadas;
d) O apelo à participação dos sujeitos econômicos, especialmente dos trabalhadores;
e) A atribuição à Assembleia da República das principais decisões sobre matérias econômicas, através da lei [...] (MIRANDA, 2000, p. 360).
Note-se que, realmente, não há nenhum dispositivo tão expressivo na Constituição Brasileira quanto a qualquer aspiração socialista mais concreta, palpável. A não ser quando o constituinte procurou regular a justiça social, nenhum outro dispositivo seria limitativo do alcance do capital, e mesmo assim não se trata de limitação expressa, direta e clara – figurando muito mais como objetivo, meta, do que como princípio (conforme arts. 3º, I, 5º, XXIII e 170, caput, III, 182, 184, 186 e 193 da CF). Mas, em que base jurídica assentou-se o modelo no Brasil? Sobre qual estrutura formal estão fixadas as chamadas garantias institucionais do Estado Democrático de Direito? Nessa linha, buscando-se esse sentido mais técnico, passemos aos princípios constitucionais do modelo no Brasil, isto é, vejamos esta aliança entre direito e política na própria Constituição Federal. De acordo com José Afonso da Silva (1991), os princípios constitucionais em que se assenta o Estado Democrático de Direito, no Brasil, podem ser assim resumidos:
a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição rígida12, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, como a garantia de atuação livre de regras da jurisdição constitucional; b) princípio democrático que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º); c) sistema de direitos fundamentais que compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII); d) princípio da justiça social referido no art. 170, caput, e no art. 193, como princípio da ordem econômica e da ordem social13 (...); e) princípio da igualdade (art 5º, caput, e I); f) princípio da divisão de poderes (art. 2º) e da independência do juiz (art. 95); g) princípio da legalidade (art. 5º, II); h) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXIII) (SILVA, 1991, p. 108).
Teremos a oportunidade de analisar daqui para frente, especialmente nas duas últimas partes, o fato de que o modelo nunca enfrentou uma crise conceitual, teórica, nem no Brasil, nem em Portugal. Trata-se, isto sim, de uma profunda crise econômica, social e política que assola principalmente os países pobres ou em desenvolvimento.
Na Constituição Federal de 1946, também se notava um excesso de zelo em relação aos regimes de exceção (fato compreensível se lembrarmos do nazifascismo), com a defesa clara dos direitos e dos princípios democráticos – tanto no art. 89, III, que punia diretamente o presidente, quanto no artigo 141, §13: “É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer Partido Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem” (grifos nossos). Note-se, mais uma vez, a clara preocupação com os direitos humanos (na grafia dos direitos humanos fundamentais).
Retomamos parte desse quadro histórico e conceitual do Estado Democrático, no Brasil e em Portugal, porque esta será a base do posterior Estado Democrático de Direito. Em Portugal, com a Revolução dos Cravos14, a primeira grande frente de luta popular contra a ditadura foi o movimento operário. A classe operária intervinha como vanguarda em toda a luta antifascista, em todo o processo popular em prol dos direitos e das garantias democráticas15. Note-se, enfim, que aqui popular é sinônimo de operário (ou de trabalhador, como se requer atualmente).
Ou seja, é de fundamental importância reter essa imagem da gradativa constitucionalização dos direitos fundamentais, das garantias democráticas e das liberdades públicas, pois este é o fermento ou estopim do quadro institucional e jurídico do Estado Democrático de Direito. Para Paulo Napoleão Nogueira da Silva (2002), trata-se de controlar o arbítrio governamental ou abuso de poder:
O “Estado Democrático de Direito” ao qual alude a Constituição Federal brasileira, assim, é algo mais do que o simples “Estado Democrático”; destina-se a limitar o poder político, tornar em qualquer hipótese garantido o exercício dos direitos substanciais que consagra a todos os membros da sociedade, a tornar impossível o arbítrio governamental, e a tornar – tanto quanto possível, antecipadamente – previsíveis quaisquer conseqüências do exercício do seu poder pelos cidadãos, assim como as conseqüências dos atos do Poder Público genericamente considerado (SILVA, 2002, p.28).
No plano político-constitucional brasileiro, para além dessa importantíssima questão do controle do poder institucional16, temos que analisar a materialidade da justiça. Mais especificamente, temos a análise consagrada de José Afonso da Silva (1991), para quem trata-se agora de um Estado Material de Direito. Tecnicamente, teríamos um menos dogmático e mais justo ou o perfil de um Estado que coloca a dogmática a serviço da justiça social. Citando e interpretando Verdú (2007), José Afonso da Silva (1991) ressalta que:
Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social (SILVA, 1991, p.102).
Então, a partir da constatação de que as máximas e os dogmas do liberalismo eram insuficientes para regular a crescente diacronia social, surge o Estado Social primeiro na forma do Estado do Bem-Estar Social. Aliás, essa dinâmica social deverá expandir as cortinas do Estado de Direito Liberal17:
Mas ainda é insuficiente a concepção do Estado Social de Direito, ainda que, como Estado Material de Direito, revele um tipo de Estado que tende a criar uma situação de bem-estar geral que garanta o desenvolvimento da pessoa humana. Sua ambigüidade, porém, é manifesta. Primeiro, porque a palavra social está sujeita a várias interpretações. Todas as ideologias, com sua própria visão do social e do Direito, podem acolher uma concepção do Estado social de Direito, menos a ideologia marxista que não confunde o social com o socialista [...] Em segundo lugar, o importante não é o social qualificando o Estado, em lugar de qualificar o Direito. [...] a expressão Estado Social de Direito manifesta-se carregada de suspeição, ainda que se torne mais precisa quando se lhe adjunta a palavra democrático como fizeram as Constituições da República Federal da Alemanha e da República Espanhola para chamá-lo Estado Social e Democrático de Direito. Mas aí, mantendo o qualificativo social ligado a Estado, engastasse aquela tendência neocapitalista e a petrificação do Welfare State, [...], delimitadora de qualquer passo à frente no sentido socialista (SILVA, 1991, p.102/103).
O que nos conduz à análise ou diagnóstico clássico de que apenas o social não qualifica legitimamente o direito quanto aos aspectos democráticos e humanitários. Aliás, um traço que ressaltaremos, logo adiante, ao apontar alguns documentos que regularizaram a condição do detento e do preso, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Isto se deve ao fato de que tanto os Estados totalitários quanto a democracia liberal podem priorizar o social18. Daí a importância de se reler o Estado de Direito à base da democracia19 e do social:
Talvez, para caracterizar um Estado não socialista preocupado, no entanto, com a realização dos direitos fundamentais de caráter social, fosse melhor manter a expressão Estado de Direito que já tem uma conotação democratizante, mas, para retirar dele o sentido liberal burguês individualista, qualificar a palavra Direito com o social, com o que se definiria uma concepção jurídica mais progressista e aberta, e então, em lugar de Estado social de Direito, diríamos Estado de Direito Social (SILVA, 1991, p. 103).
Este é o quadro que só irá se definir mais claramente quando o Estado assume, portanto, o seu verdadeiro retrato democrático:
É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado a um conceito de lei, como o que imperou no Estado de Direito Clássico. Pois ele tem que estar em condições de realizar, mediante lei, intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da comunidade. Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade social. E se a Constituição se abre para as transformações políticas, econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará de importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do direito positivo, caracteriza-se como desdobramento necessário do conteúdo da Constituição e aí exerce função transformadora da sociedade, impondo mudanças sociais democráticas (SILVA, 1991, p. 107. – grifos nossos).
De forma decorrente, esse período de formação do Estado Democrático também coincide com várias resoluções e declarações da ONU em defesa dos prisioneiros e detidos (quer sejam políticos ou militares, quer sejam presos comuns), como, por exemplo, as “Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos (31 de julho de 1957)”. Além de muitos outros documentos que foram sendo firmados até o final dos anos 1970, como: “Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Princípios básicos relativos ao tratamento de reclusos; Princípios de Ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Conjunto de Princípios para a Proteção de todas as Pessoas Sujeitas a qualquer forma de Detenção ou Prisão”; “Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Declaração sobre os princípios básicos de Justiça para as vítimas de criminalidade e de abuso de poder”20. Este, digamos, é o referencial mínimo do que se convencionou chamar de direito humanitário – além das seguidas retificações e ratificações da própria Convenção de Genebra.
A seguir, também ficará claro, mas é bom antecipar que, em nossa perspectiva, esse modelo vigente a partir de meados dos anos 70 vai se transformar e sofrerá (tecnicamente) novos empuxos públicos. No Brasil, os incrementos trazidos pela própria legislação anunciam a agudização de aspectos significativos do Estado Democrático de Direito Social, como por exemplo: a legislação de proteção ambiental (desde a ECO-92, no Rio de Janeiro); a Lei de Responsabilidade Fiscal (04/05/2000); o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Código de Defesa do Consumidor; o Estatuto do Desarmamento; o Estatuto do Idoso; o Estatuto do Torcedor.
Além de dados concretos, como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello (relembrando a responsabilidade presidencial de que já tratava a Constituição de 1946), a eleição de Lula, um ex-operário (para substituir Fernando Henrique Cardoso: professor titular da USP e doutor honoris causa em vários países). Mas nada irá indicar melhor que se trata de um Estado de cunho tão claramente social quanto o empenho de verbas públicas, destinadas às áreas da saúde (art. 55, ADCT, da CF) e da educação (art. 212. da CF); aliás, agora figurando como garantias constitucionais dadas em razão dos direitos públicos anteriormente proclamados, o que implica em mais responsabilidade do administrador público, especialmente no tocante à área social.
Os direitos humanos no caminho da carta política
Ocupam lugar de destaque, no pós-Guerra, os Direitos Humanos como uma reserva mínima de garantia da existência digna das pessoas – como um torque ontológico na constituição do processo civilizatório. Os efeitos do direito em sua ruptura com a moral (entendida como dignidade) e com os valores (em destaque a democracia) desembocaram na legalização de regimes autoritários, totalitários e em várias nuances de fascismo. Das mais notáveis, o nazismo se ocupou da Constituição de Weimar e colocou a perder todos os postulados de Direito Social e as garantias das pessoas que experimentaram os horrores do regime de Hitler. A resposta jurídica viria na forma da Lei Fundamental da República Federal da Alemã (1975).
A humanidade, não só pela comoção, como também por sentir as grandes e irreparáveis perdas, em aspectos de vida humana e de desenvolvimento social/moral, passou a pensar em mecanismos de proteção da menor unidade de representação: o próprio indivíduo. A partir disso são pensadas as fórmulas de amparo, independentemente de um especificado Poder Político, para ter no Direito não mais uma fonte de violência, mas a implementação de valores constitucionais que fortalecessem o processo civilizatório. Esta aposta já se consubstancia, por exemplo, na Constituição de Bonn (Alemanha, 1949).
Com efeito, é a partir destes postulados que são desenhados os contornos dos direitos que se insculpem na Constituição, dos quais o direito à saúde será apresentado como um direito fundamental em seu viés social.
O presente texto visa apresentar os Direitos Humanos como uma primeira aproximação, como substrato dos direitos fundamentais insculpidos na Carta Política de 1988, consoante o art. 5º, bem como o direito social à saúde, de modo específico. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a da pesquisa do tipo bibliográfica para a visitação de textos sobre o tema e o método dedutivo para a organização do trabalho.
Direitos Humanos: primeira aproximação
De acordo com a definição clássica, os direitos humanos são declarados naturais e, portanto, universais. Esses princípios naturais e universais constam na Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada (e não outorgada) por dezenas de países no dia 10 de dezembro de 1948, junto à Organização das Nações Unidas (ONU) – comemorando setenta anos em 2018.
São naturais e universais porque pertencem a todos os seres humanos e independem de sexo, etnia, idade, poder aquisitivo, julgamento moral, orientação política, religião, condição física, opção sexual, afinidade ideológica. São considerados patrimônios da humanidade e, assim, são entendidos como um tipo de salvaguarda ou pleno reconhecimento, seja por parte do governo ou de qualquer outra pessoa. Exigem, portanto, uma defesa intransigente. Seu alcance e abrangência são atestados quando se verifica que temos direito aos direitos humanos antes mesmo de termos nascido, são os chamados Direitos das Gerações Futuras ou direitos garantidos pelo Estado de Direito Democrático de Terceira Geração: Direitos de fraternidade/solidariedade.
Os direitos humanos também são considerados inalienáveis, indivisíveis, intransferíveis e inamovíveis. Em primeiro lugar, isto quer dizer que não podemos dispor de nossos direitos (alienar: tirar de si). São indivisíveis porque não recebemos apenas uma parte desses direitos. Tome-se o exemplo dos presos: eles não têm direito de liberdade (dada a pena de reclusão), mas estão ao alcance do todo o significado das declarações de direitos, como: direito ao trabalho, à educação, segurança, saúde, lazer, bons tratos, alimentação adequada.
Neste caso, procede perguntar se a liberdade não é um direito humano e se privar alguém do seu exercício não constitui grave violação dos direitos humanos. No geral, é evidente que sim, mas note-se que a liberdade também é um direito individual e está regulado pela legislação de cada país. Aqui, portanto, faz-se necessária outra distinção: entre os chamados direitos da cidadania ou direitos positivos (referentes a cada Estado e regulados por legislação própria) e os direitos humanos. Ainda no exemplo dos presos, é bom lembrar que também têm suspenso o direito ao convívio social externo (com a sociedade), mas isto não implica que devam ser “dessocializados”, quer dizer, isolados de convívio humano até perderem traços regulares da Interação Social. Isso se deve ao mesmo fato: a restrição à liberdade não impõe a perda da alteridade, sobretudo como obrigação pública, pois o que se espera é que as condições de aprisionamento favoreçam a “ressocialização”, como garantia de padrão civilizatório ao ser-social.
Por que os direitos humanos são considerados intransferíveis? São considerados assim, porque, para retomar o exemplo dos presidiários, nenhuma pessoa pode transferir um direito seu a outro. O direito de liberdade não é exceção: uma mãe não pode transferir seu direito de ir e vir para o filho, indo ocupar seu lugar na prisão. Atende-se, aqui, ao Princípio da Individualização da Pena (art. 5º da CF/8821). Uma pessoa que ocupe o lugar de outra na prisão, enganando os guardas na hora da visita, por exemplo, responderá pelos crimes de falsidade ideológica e facilitação de fuga.
Mas, apesar de haver comunicação entre vários tipos de direitos (no mesmo exemplo, políticos, individuais e universais), também dizemos que os direitos humanos são inamovíveis. Isto é, nenhum governo pode alegar confusão entre os níveis (individual x universal) para negar ou violar um direito humano. Essa espécie de conflito de interesses entre o que quer o Estado – chamado de monopólio legítimo do uso da força e do poder – e o que é direito da pessoa humana é falsa. Para tomar um exemplo radical, o governo brasileiro não poderia alegar superlotação carcerária para aplicar a pena de morte (contrariando o artigo 1º, que é o direito à vida), ou alegar falência e deixar de alimentar os presos.
Isso explica porque não há pena de morte no Brasil, apesar de muita gente querer. Porque todos os demais direitos humanos decorrem do direito à vida. Mas isso só explica em parte. Pois, pode-se alegar que a pena de antecipação da morte existe nos EUA, China Arábia Saudita e por que no Brasil não?
No nosso caso, ocorre, de maneira diversa, que a Constituição brasileira declara o compromisso com o respeito e promoção dos direitos humanos (artigo 4º) e especificamente a garantia da inviolabilidade do direito à vida, no caput (início) do artigo 5º. Como esses artigos não podem ser alterados – porque são cláusulas pétreas ou direitos fundamentais –, fica impedida qualquer tentativa de reformulação da Constituição através de emendas22. Seria necessário um golpe constitucional, contrariando todo o direito internacional.
Como marco histórico e teórico desses princípios, garantias e direitos fundamentais, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) são os documentos declaratórios de direitos mais importantes de todo o direito internacional. Pelo fato de terem sido promulgadas por dezenas de países em 1948, tornaram-se um pacto de princípios, interesses comuns e responsabilidades que os obriga a todos da mesma forma. Hoje, tais declarações recobrem todos os continentes e culturas.
Depois de sua promulgação, porém, e dada a amplitude e universalidade dos princípios propagados, era necessário que certos temas fossem melhor detalhados e legislados de forma específica. O caso mais evidente é a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), que fixa as noções gerais e abrange questões específicas como educação em direitos humanos e outra que talvez seja a mais ampla: a questão do gênero.
A Declaração de Viena, por sua vez, orienta para que todos os seus signatários responsabilizem-se pela promoção e desenvolvimento de planos e programas de direitos humanos. O Brasil tem seu próprio Programa Nacional de Direitos Humanos e atualmente muitos estados já possuem programas estaduais, a exemplo de São Paulo e de alguns municípios, como Marília e Lins. A cidade de São Paulo possui um plano e não um programa, o que de certa forma desobriga o compromisso tácito dos poderes municipais institucionalizados. Mas, no geral, todos esses programas estipulam metas e orientações a serem seguidas pelo Poder Público, como a transversalidade do ensino e da prática dos direitos humanos no 2º grau. Também os cursos de ensino superior de Direito têm matéria obrigatória.
No contexto efetivo, além das intenções, o Brasil deu um passo adiante quando assumiu compromisso (efetivado em parte) de elaborar tipificações próprias para crimes relacionados às graves violações de direitos humanos. Um exemplo bastante conhecido é a legislação sobre os crimes hediondos, inafiançáveis e, entre eles, a punição severa para o crime de tortura – não mais entendido como simples lesão corporal. Porém, o mais importante é que exemplos como esse desmoronaram o argumento de que a Declaração Universal não tinha poder de lei. Os opositores alegavam que a ONU não poderia obrigar qualquer país a cumprir aquilo que tinham assinado. De fato, não poderia, mas ocorre que muitos países, como o Brasil, internalizaram os princípios gerais no seu direito penal (e que alcança a todos).
Estado Democrático de Direito Social: uma crise anunciada
O Estado Democrático de Direito é uma elaboração jurídica, teórica e passível de realização unicamente política e econômica, mas que não se realizou dessa forma (desde 1976), porque os anos 70-80 impuseram um modelo econômico recessivo, globalizado e de total submissão do Estado-Nação ao capital internacional, à “financeirização” especulativa.
O melhor, então, seria falarmos de um Virtual Estado Democrático de Direito – virtual como virtude e como virtualidade, o que recobre de possibilidades reais a transformação de uma semente, uma promessa, em ser adulto, em fase de afirmação e de autonomia –, porque o modelo reúne as melhores formulações institucionais republicanas, democráticas e federativas, mas também é virtual (agora limitadamente) porque nunca se tornou um fato concreto, não sendo um dado atual da política nacional e internacional. Então, se é assim, de que problema nós estamos tratando?
O Estado Democrático de Direito Social
Apenas relembremos que o foco se dirige às políticas públicas, o rescaldo negativo do neoliberalismo – sucumbiu à luta de classes, de grupos, interesses, valores, práticas opostas, descontínuas – como organização social que se apresenta no atual estágio do capital financeiro. Portanto, não se trata de uma falha, quebra ou trauma na estrutura do conceito, não se trata de inconsistência estrutural, teórica, conceitual, orgânica. O Estado Democrático de Direito perdeu sim um nexo histórico, haja vista que o próprio acena para a construção/edificação do socialismo.
A derrota, anunciada já nos anos 90, com o crescente processo de internacionalização dos capitais e sua fase avançada como se tem na “financeirização”, portanto, foi política e econômica e não exatamente porque houve uma superação teórica, jurídica. Aliás, basta-nos lembrar que, depois dessa fase da globalização e do neoliberalismo, não se fez, não se produziu nenhuma outra meta-teoria político-constitucional que o suplantasse – somente se expandiu seu legado, como se vê com as tentativas de um Estado Pluriétnico e de um Estado de Direito Democrático de Terceira Geração: agora, em conflito aberto com a degradação avolumada da natureza e com o recrudescimento do fascismo.
Não se trata de um conceito estéril, que não leva a lugar algum ou que nos faz girar em círculos, como se o próprio conceito estivesse preso a regras e fórmulas que o impossibilitassem de servir a uma análise mais profunda e profícua. Não é ideologia ou só tautologia, não nasceu datado – com prazo de validade. O modelo não nasceu circunscrito à realidade estritamente europeia, pois é um desdobramento do Estado Democrático (nos anos 50): reforçando-se a positivação do princípio democrático e da dignidade humana e, depois, acrescentando o ideal da Justiça Social.
Nesse sentido, não se deve confundir a crise do Estado-Nação – a realidade histórica que se solidificou com o Estado Moderno (nossa concepção atual de soberania) – com os problemas de consecução do modelo perpetrado pelo Estado Democrático de Direito. Aqui é válida a lembrança de que o modelo socialista foi interposto a uma sociedade baseada no modo de produção capitalista. Neste caso, não há superação conceitual, mas somente reflexo de um modelo social e político (estatal) que naufragou em virtude da crise econômica experimentada pelo Welfare State23 e da crise política decorrente: a insustentável soberania e legitimidade do falecido Estado-Nação.
No lugar das instituições tradicionais do Estado-Nação (soberania, nacionalismo), vê-se o surgimento do Estado-empresa e de suas instituições reguladoras, como: arbitragem e privatização da prestação jurisdicional, flexibilização, extinção de direitos e garantias, terceirização de serviços públicos essenciais, privatização e desnacionalização de empresas nacionais, reforma capitalista de direitos: extinção das garantias do direito do trabalho. Um modelo político e econômico é óbvio, que não se impõe pela justiça material, mas sim pelo sistema da contabilidade por partida dobrada: em que as relações sociais são baseadas unicamente pela aritmética custo-benefício.
O Estado Democrático de Direito Social, então, é uma realidade jurídica que não se defronta com situações globais favoráveis. Por exemplo, se esta experiência tivesse sido gerada em países mais desenvolvidos economicamente e socialmente talvez este mesmo texto encontrasse novos argumentos a seu favor, mais concretos e reais, na linha de sua transformação social e jurídica. Apesar do que diz nossa própria Constituição, o Estado Democrático de Direito Social sempre foi uma promessa, uma proposta, uma expectativa, um projeto, nunca ultrapassou essa condição teleológica, propositiva – basta ver que o artigo 3º trata exatamente das finalidades ou das intenções nunca realizadas pelo Estado brasileiro. A Carta Política, bem se sabe, é de natureza jurídica programática – o que, para muitos, é uma pedra no caminho, diante do processo civilizatório é uma miríade, um devir-humano digno. Assim, sempre lhe faltou uma base histórica em que pudesse se assentar e a partir da qual iniciar o fluxo da modificação da realidade que o circunscreve e, consequentemente, de sua própria transformação estrutural (de conceito em realidade política).
Entretanto, ainda que se perceba apenas como realidade conceitual, o Estado Democrático de Direito Social só se verificaria no confronto com o dado real, com as políticas concretas que viessem concretizá-lo ou não. Assim, é um contrassenso, uma inconsequência analítica supor que o maior problema (ou que sua solução) é de base processual – supondo-se que o acesso à justiça formal é sua maior garantia ou principal característica constitutiva. O devido processo legal é uma garantia do Estado de Direito, mas não se confunde/limita com os pressupostos do Estado Democrático de Direito Social – há muito mais embaixo do tapete do que o dogmatismo que referencia a justiça dos fóruns24. Mesmo porque, não há justiça alguma com tanta miséria social. O Estado Democrático de Direito Social rege-se por um princípio fundamental e lógico: não se faz justiça com menos direitos. O dogma da santíssima trindade25 não lhe é a maior preocupação ou o maior desafio – sobretudo se opusermos essa limitação, esse dogma jurídico, às maiores e reais necessidades de transformação política, cultural e econômica. O Pai, o Filho, o Espírito Santo – como uno ou unidade que mantém a vida e dá conta da revelação, da verdade – equivale ao eixo, ao núcleo duro do Direito baseado na segurança jurídica: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (CF, art. 5º, XXXVI). Neste sentido, notaremos facilmente que, se temos em vista o debate social, o bem maior (a República), o interesse de todos, o contexto coletivo, as necessidades nacionais, o pacto entre as partes pode e deve ser revisto e suspenso, especialmente se, frente ao capital predatório, estiver a vida humana: do pacta sunt servanda ao rebus sic stantibus.
Aliás, outra contradição inerente aos pressupostos do Estado Democrático de Direito Social refere-se ao fato de que se trata de uma elaboração teórica, mas que só se realizará, materializará, com a transformação substancial, radical, profunda (de certo modo, revolucionária26) da política e da economia dos países em questão: Portugal, Espanha e Brasil. Mas, hoje, em meio à crise de soberania, será possível que esse modelo de Estado, por sua vez embasado no Estado Constitucional clássico, teria alguma chance de vingar no futuro próximo? Como prevê Canotilho (s/d), ainda deveremos continuar a ouvir das características do Estado Constitucional Democrático de Direito, como premissas para entendermos o andamento do Estado atual em boa parte do mundo. Canotilho (s/d) se ampara nos elementos de sua formação: a) domesticação do domínio e do poder político; b) ampliação da base dos direitos políticos. Além de duas razões subsequentes:
No entanto, ele continua a ser um modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões do Estado como comunidade juridicamente organizada: (1) o Estado é um esquema aceitável de racionalização institucional das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia política de equilíbrio político-social através da qual se combateram dois “arbítrios” ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais (CANOTILHO, s/d, p. 90).
Porém, mesmo diante dessas observações, podemos dizer que no Brasil, mesmo no meio acadêmico e jurídico, o tema não recebeu tratamento adequado, que ultrapassasse os limites dos manuais: ninguém o estudou de fato. Entre o povo, nunca passou de palavrão – e este é apenas um traço da gravidade de nosso ensino; entre as cortes, ou é figura de retórica (que quase nem se houve falar) é presa dos corporativismos e do capital predatório. Enfim, o Estado Democrático de Direito Social não faz parte da cultura jurídica, não se enraizou com força de transformação, de mudança social – notadamente se observarmos o retrocesso nos padrões civilizatórios imposto a partir da Ditadura Inconstitucional de 2016 (MARTINEZ, 2017).
Educação para a cidadania – construindo uma radicalidade interativa*
O tema a ser relacionado no texto, de forma ampla, é Direitos Humanos e Educação. Sobre a questão genérica da educação, direitos humanos e cidadania há várias correntes teóricas e linhas de ação política. Pode-se pensar desde Kant (1990), dentre os clássicos modernos, até Patrice Canivez (1991) e Norberto Bobbio (1992), dentre os contemporâneos.
Num amplo contexto histórico, a cidadania se estruturou a partir da participação direta e da consciência política (pública) acerca dos problemas comuns e urbanos, até que acabou-se por designá-la de cidadania ativa. Hoje, porém, o conceito de cidadania ativa não requer unicamente o voto direto, isto é, a democracia direta como se verificava na Grécia antiga (COLE, 1987).
Tendo, hoje, na consciência pública, um traço distintivo entre a cidadania ativa dos antigos e a consciência dos direitos individuais, sociais e políticos do cidadão moderno, a fim de que haja participação e para que o ato político não se esgote em si. Para Benevides (1991), devemos ressaltar os mecanismos políticos disponibilizados pela ordem legal brasileira, dada a contingência de sua implicação global para o conjunto da sociedade. Trata-se da aplicação do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular: instrumentos políticos da democracia direta. Atualmente, a autora também destaca a iniciativa de alguns municípios que buscam implementar o Orçamento Participativo e a Ação Civil Pública etc., mas há, todavia, um lado obscuro, na verdade, uma pregação para a abstinência e desinteresse.
Há outra faceta desta aceitação acrítica da ideologia dos oponentes à participação do povo, mais sutil, mas ainda mais perversa. Poderíamos, inicialmente, começar perguntando: a quem interessa a ausência do direito à cidadania e que sempre se expressa em algum tipo de grave violação do Direito Humano? Quem sempre se beneficiou com a tese de que o direito é mera abstração, e de que a cidadania não passa de uma abstração jurídica?
Se tomarmos exclusivamente as experiências negativas ou ofensivas aos direitos básicos, que cada um sofre a seu modo, a conclusão rápida que se tira é que não há cidadania. Ou, na melhor das hipóteses, pensamos e externamos o pensamento de que é uma abstração. O senso comum tem razão apenas no sentido lato senso, mas, no fundo, acaba por verbalizar uma forma ideológica e que, vale dizer, é talvez a mais nefasta.
Toda ideologia tende a universalizar o particular. É a conhecida história, muito bem expressa pelo ditado popular, de que a exceção justifica a regra e quando dizemos que não há cidadania, acabamos por internalizar um estado de coisas, na verdade um status negativo, que tem como mecanismo básico incutir a ausência da cidadania. É como se acreditássemos que a cidadania é mera abstração e que, portanto, não há o que se fazer. A acomodação à experiência do vilipêndio pessoal e social dos direitos fundamentais é a face visível da ideologia que quer conformar a todos num estado de negação de si mesmos. Porque, dessa forma, seus propagadores lucram com a obtenção e manutenção do poder, para se manter o poder deve ser privilégio de poucos. Privilégio, como se sabe, decorre da lei privada.
Consciente ou inconscientemente, da direita para a esquerda, de cima para baixo, e vice-versa, casos como chacinas ou mortes degradantes (fome, frio, fogo, etc.) são tomados para justificar a inexistência do direito à segurança e do direito à dignidade humana. Nesse sentido, não precisamos ir muito longe para entender que se um Direito Humano for negado a alguém, significa que não foi totalmente universalizado. Mas, de modo algum, equivale a dizer que os Direitos Humanos não são universais.
Os Direitos Humanos são universais porque são tidos por naturais. Na ótica do direito, constituem parte da pessoa humana antes mesmo dela ter sua personalidade jurídica assegurada ou decretada pelo poder do Estado em que tenha nascido. Em suma, costuma-se declarar para efeito de determinação jurídica e divulgação popular que pertencem a todos nós independentemente de credo, raça, sexo, idade, poder aquisitivo, ideologia política, consciência moral, etc.
Por isso, a proposta da cidadania ativa ultrapassa a mera atividade eleitoral, diverge e está além da ironia que Marx (2011) lança, nos 18 Brumário, a respeito do processo eleitoral democrático.
Mas como realizar tal projeto?
Como esclarecer o povo da necessidade política de se valer dos instrumentos jurídicos e políticos? A resposta está na democracia e aqui se tem, novamente, a necessidade da educação. Educar para conhecer, difundir e dispor do que está disponível na política e no ordenamento legal. Educar para exercer, sobretudo, a análise que distingue a formação concreta do cidadão dada pela política e a abstração e formalidade fornecida pela lei. Mas ressalte-se, é evidente que não se trata de um termo neutro e, por isso, não se limita ao procedimento eleitoral. Sua negação, porém, em muitos casos, está além das meras afirmações ideológicas.
A democracia é um tema extremamente complexo e, por isso, difícil de ser abordado. Racionalistas, legalistas, liberais e socialistas, entre tantos outros, dispõem, cada um a seu modo, de suas próprias definições e métodos de defesa, aplicação e observância das normas e procedimentos democráticos, mas há questões que podem ser postas para todos.
Por exemplo: é possível alcançar a democracia fazendo uso de meios não democráticos (ditadura, etc.)? Pode-se decretar o fim da democracia através de decisões democráticas? A democracia se restringe aos procedimentos democráticos ou há – ou sempre houve – um princípio universal que se adequa aos momentos históricos?
O caso da Argélia, para tomar um dado concreto, é explicativo dessa reflexão. Em 1992, os muçulmanos xiitas chegaram ao poder utilizando-se do voto livre e secreto, voto democrático, portanto, mas sabia-se que sua primeira ação seria justamente acabar com o direito de voto das mulheres. Afinal, esse procedimento seria democrático ou não? Se partirmos do pressuposto de que uma das regras básicas da democracia é o respeito pelos direitos e interesses das minorias (no caso do voto feminino, a expressão minoria se refere à representação política e não à representação social), então concluiremos que a vitória muçulmana na Argélia não configurava um ato democrático. Justamente porque vinha viciada, em seu conteúdo, de intenções claramente antidemocráticas. Trazia uma espécie de vício redibitório político, uma deformação de origem.
Aqui vale reforçar algumas diferenças entre direitos da cidadania e Direitos Humanos, pois os primeiros aplicam-se a um sentido político determinado, de um Estado determinado, ao passo que os Direitos Humanos correspondem à integralidade das pessoas (além de universais, também são declarados naturais, históricos, indivisíveis, interdependentes e inalienáveis, ainda que sob qualquer alegação ou justificativa política, social, governamental ou até aparentemente racional – como é o caso dos conflitos beligerantes).
Assim, para tomar outro exemplo, não se pode alegar a ordem e a disciplinarização constitucional de qualquer que seja a República Islâmica a fim de pressionar as Declarações de Direitos Universais para baixo, exigindo, em nome do relativismo cultural, o seu simples descumprimento. Sua base é a igualdade política e educacional.
Porque a igualdade dos cidadãos implica a igualdade dos indivíduos em relação ao saber e à formação. Surge enfim, a questão do tipo de educação do cidadão assim definido. Essa educação não pode mais simplesmente consistir numa informação ou instrução que permita ao indivíduo, enquanto governado, ter conhecimento de seus direitos e deveres, para a eles conformar-se com escrúpulo e inteligência. Deve fornecer-lhe, além dessa informação, uma educação que corresponda à sua posição de governante potencial (CANIVEZ, 1991, p.31).
Educação em Direitos Humanos
Como vimos, a prática da soberania popular e a efetivação dos direitos humanos são requisitos básicos da democracia. Se pensarmos de maneira direta, concluiremos que a cidadania só sai fortalecida no âmbito democrático – tendo a educação como substrato – quando a teoria e a prática da educação política popular orientam-se pelos princípios democráticos e se concretizam no respeito e na aplicação integral dos Direitos Humanos.
A temática dos direitos humanos deve ser transversal a todo o processo educativo e não exclusividade desta ou daquela especialidade ou ramo do conhecimento e, por isso, não há sentido em se falar de disciplinas relacionadas aos Direitos Humanos que fossem implementadas no 1º e 2º graus. Porém, há sentido em se falar de disciplinas específicas quando a referência é o ensino superior ou cursos centrados no tema (como os debates em eventos) porque, neste caso, trata-se de um aprofundamento do tema, das teorias e da história, de suas consequências sociais – além de pedagógicas – etc. Daí que se fala unicamente de Educação em Direitos Humanos e não de Educação para Direitos Humanos (como se fosse algo que se quisesse alcançar), porque a efetivação ou a violação da realidade dos direitos humanos promove ou obstrui a todos os seres.
Em outro exemplo, tomando o lema do movimento feminista internacional, nenhum direito a menos, alguns direitos a mais, poderíamos depositar a ênfase nos Direitos Humanos, e não somente no direito positivo como está na frase. Com o que teríamos: Nenhum direito a menos, alguns Direitos Humanos a mais.
A maior vantagem estaria na afirmativa de que os Direitos Humanos recobrem toda a realidade da pessoa humana. Infelizmente, ainda hoje, é necessário deixar claro que os Direitos Humanos não se aplicam a este ou a aquele grupo social de interesses, independentemente até mesmo da inequívoca justiça que recubra suas aspirações. O lema adaptado à amplitude dos Direitos Humanos ainda traria outra vantagem. Deve ficar claro que, defendendo a adaptação do lema, não desconsidero a história de luta e organização que o conforma. Para o momento, bastaria lembrar o massacre das mulheres trabalhadoras têxteis, nos EUA, como marco do Dia Internacional da Mulher. A vantagem está, justamente, na incorporação da própria história do lema e do movimento social que o gerou. Assim, é como se dissesse que a história fala por intermédio de novos interlocutores, agora, homens e mulheres, crianças e adultos, etc. É a revelação do princípio universal, na medida em que desperta o universal presente no local. Por aí também se vê um bom exemplo de transversalidade dos Direitos Humanos: a luta feminina transformando-se num novo polo de acessibilidade dos Direitos Humanos, com homens e mulheres em igualdade.
Educação para direitos afins
Por outro lado, têm recrudescido os argumentos que negam a universalização do tema. Baseados nas teses do relativismo cultural, analistas dizem que os Direitos Humanos são valores ocidentais e, por isso, não se pode forçar países islâmicos a aceitarem seus valores. Mas se já não bastasse a argumentação de que os Direitos Humanos pertencem a todos, islâmicos ou democratas, parece necessário indicar a falácia relativista. Porque, se as Repúblicas Islâmicas não incorporam a democracia e o respeito integral aos Direitos Humanos, por outro lado, têm incorporado como estrutura de sua sociedade uma noção realmente capitalista e ocidental – que é a engenharia do cálculo frio e a forma adaptada da razão instrumental. Hobsbawm (1997) é claro neste sentido.
Para o senso comum do século XIX, é inconcebível que um enorme progresso material coexista com um retrocesso moral. Mas a experiência demonstra que é possível. Também parece possível a combinação de ideologias anti-racionais com o controle de uma tecnologia baseada em fundamentos racionais. Em alguns países da Ásia, os movimentos fundamentalistas se apoiam em engenheiros e em especialistas em cálculos. Parece muito estranho que alguém que acredite no Alcorão possa ser, ao mesmo tempo, um engenheiro químico. É preciso ver como se resolve isso (HOBSBAWM, 1997, p. 8-9).
Neste momento, antes de passarmos à frente, creio que é necessário retomar a distinção entre a ideia de direito a ter direitos (Arendt) e direito ao direito (Hegel). Pois, a subsunção do direito à propriedade é claro no pensamento de Hegel – o que o distingue claramente da proposta de Arendt – como indica Bobbio (1989).
O primeiro conceito jurídico com que deparamos é o de propriedade; mas isto ocorre quando a dialética da necessidade – de que nasce o trabalho – e do trabalho – de que nasce a posse – está em pleno desenvolvimento. O ato que transforma a posse em propriedade, isto é, o direito (neste contexto, propriedade e direito são sinônimos, tanto é que o direito à propriedade é definido como ‘direito ao direito’), é o reconhecimento por parte dos outros: a propriedade é a posse reconhecida (BOBBIO, 1989, p. 64).
Daí que se Marx colocou Hegel de cabeça para baixo, uma leitura invertida de Hegel – direito ao direito – pode nos conduzir até Arendt com seu direito a ter direitos – onde a propriedade deixa de ser pré-requisito do próprio direito, ou seja, como se vê nas garantias expressas nas principais declarações universais de direitos humanos. Porque os direitos humanos independem, sobretudo, da condição social e econômica.
Ainda sobre aspectos convergentes, em geral, costuma-se tratar a Educação em Direitos Humanos como sinônimo da Educação para a Democracia. Nesse sentido, pode-se dizer que, até certo ponto, ambas (Educação para a Democracia e Educação em Direitos Humanos) tratam de questões intercomunicantes. Para tomar outro exemplo, a liberdade, como se sabe, é uma questão intrínseca à democracia, mas também é um direito básico, previsto no artigo terceiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Em sentido diverso, pode-se apontar a obviedade que educar para a democracia é educar para a política. O que não é tão óbvio, porque, no plano concreto, as relações políticas nem sempre estabelecem relações humanas pacíficas. Para a Realpolitik – entre outros, Maquiavel, Hobbes, Marx e Weber –, a violência é o eixo da política. E, assim, se a Educação em Direitos Humanos não é neutra, e sim política, seria possível pensarmos numa contradição. Mas ocorre que a Educação para a política não é uma via de mão única, pois, se tomarmos a separação entre a prática política e a reflexão ética – e hoje isto está mais presente do que nunca – é fácil constatar que de um lado está a violência e do outro a ética. E, então, se a Educação em Direitos Humanos é intencionada politicamente, a intenção deve ser claramente ética.
E se pensarmos que a Educação para a cidadania não pode estar lastreada pela desigualdade, então também é fácil localizar o conteúdo ético – e que, é bom ressaltar, não deixa de ser político, ainda que não receba o enfoque da violência. Por fim, além de verificarmos que todas estas intenções ou modalidades específicas de educação são interligadas, certifica-se a noção de que o cidadão só pode ser um sujeito social apto aos valores humanos e à ética-política. O que o habilita para noções muito além daquelas previstas pelas relações do trabalho, uma vez que o cidadão não é sinônimo de trabalhador e nem a cidadania se conforma aos caprichos da produtividade capitalista. Como se vê, a abordagem confirma uma tese de Norberto Bobbio (1995),
[...] a esquerda deveria se identificar cada vez mais com a defesa dos direitos de cidadania, em favor sobretudo dos direitos não aquisitivos e dos direitos de autonomia. Quanto aos direitos sociais, conquista histórica da esquerda, sustenta que uma esquerda digna deste nome tem hoje a obrigação de resistir à tentativa liberal de desmantelar os aparatos do Estado social (BOBBIO, 1995, p. 23).
DO ESTADO DE EXCEÇÃO VIOLADOR DA DEMOCRACIA
Como ensina Häberle (2008), é preciso ler a Constituição e o direito como fomento cultural. Assim, pode-se conceber o pluralismo como uma ideia luminar e a cultura como um conceito aberto. No caso brasileiro, o seguinte problema seria passível de análise: como se arranjaram reciprocidade e multiculturalismo na ordem jurídica ou, em outras palavras, a cidadania e as garantias constitucionais.
Tal marco analítico constituiria um verdadeiro status ao pluralismo constitucional, ou seja, a cultura figuraria na própria Constituição – o que seria terreno fértil à elaboração teórica e prática do que se convencionou chamar de Estado Social na sociedade aberta. Esse conjunto de defesas constitucionais alicerçado pela ordem da cultura ainda serviria ao combate das formas fascistas e totalitárias de Estado que têm sido anunciadas.
Nesse sentido, portanto, Häberle (2008) intenta constituir um modelo jusfilosófico (axiológico) da cultura, notadamente nas sociedades modernas altamente racionalizadas. Evidentemente, sob um escrupuloso respeito à diversidade cultural – seria como um ideário a constituir uma sociedade multicultural e multiétnica. Certamente um desafio ao Estado Social que, além das dificuldades inerentes à ordem da cultura, ainda faz resistência ao neoliberalismo.
Juridicamente, equivaleria a ter o pluralismo como pressuposto jurídico-filosófico da Democracia Constitucional – equivalente a uma dimensão intercultural e jurídica da democracia social. Essa forma de ver o multiculturalismo – ou respeito às mais variadas intersecções culturais – empresta ao direito uma generosidade constitucional ao mesmo tempo em que busca uma articulação jusfilosófica da cultura.
Assim, Häberle (2008) incorporou ao contexto jurídico: a música e a literatura, a arquitetura, as artes cênicas e a pintura. Esse esforço lhe valeu uma visão policrômica, multifacetada, democrática, transdisciplinar e, como queria o autor, transcultural.
Da Política à Carta Política
No rodapé da história do Direito Ocidental desenvolvido, mesmo sofrendo 90 emendas, a Constituição Federal de 1988 insiste em ser constitutiva de direitos e deveres do Poder Político, por isso, o objeto ainda é a formatação de uma Carta Política que apresente valores honestos, como os republicanos.
Uma Carta Política assim é deferida porque traz um cardápio de direitos. Mas, antes disso, pelo fato de ter nutrido no seio e na alma popular a esperança de ser possível regular o poder, pois assim alcançaria a mais completa demanda da condição humana em um contexto de dignidade.
No sentido jurídico, é como se a Polis (a civilidade, a politicidade) trouxesse em si a forma coletiva de dizeres que se completam em cada ser social e capaz de, racionalmente, chegar a um denominador comum do que mais lhe interessa, aproximando-se em razão e consciência de todos os outros seres igualmente socializados pela ação política e pelo direito (ARENDT, 1991).
A Carta Política, muito mais do que delimitar direitos políticos, almeja incutir em todos os cidadãos a consciência de que, por meio da ação política, provoca-se um direito revelador do que haveria de melhor em todo ser social. Também por isso a Constituição, como Carta Política, não precisa prefaciar que ali se consubstancia a “política honesta”. Pois, obviamente, tal lógica não se coadunaria com a construção da Polis – a alma política de cada povo –, se as práticas políticas se mostram desonestas – o que tornaria a Constituição sem efeito social prático.
Pressupondo-se que o elogio não pode ser mera retórica – ainda que seja uma retórica em favor das boas práticas políticas –, pois, mesmo com as melhores intenções constitucionais, pode-se simplesmente não sair do jogo dúbio entre eficácia e eficiência. Nesse jogo infrutífero, o elogio pode se perder como medium, mas tornar-se meio incorreto – racional, mas não razoável – e refém de um desafio inalcançável, como discurso ativo que se degenera em discurso vazio, em retórica sem objetivo.
Se há uma ideologia que supere a retórica esvaziada do direito fático (LYRA FILHO, 2002), que essa seja evocada para sua transformação em uma Carta Política onde caibam e atuem todos os brasileiros. Que o direito seja uma objetivação da política do “homem de bem”, da justiça que se almeja, portanto. Da teleologia prometida, ao futuro dos mais jovens, em desafio constante à metafísica dos mais velhos.
Para que corpo e mente tenham a mesma razão de ser, prontos a iluminar a Liberdade e a Igualdade, a Carta Política não pode ser indiferente à dessocialização, aos obstáculos concorrenciais à socialização político-jurídica. Sob o realismo político – a maneira de ser dos fatos políticos, o modus operandi concreto das inclinações políticas –, os desafios à Constituição não podem abalar a construção/certeza constitucional em seus preceitos fundamentais: a divisão dos poderes; a República; o Império da Lei; a salvaguarda efetivada dos direitos constitucionais fundamentais.
Do Poder Político e do Direito
Se observado que o ser humano é social por definição, de sua evolução em espécie apta à adaptação, uma conclusão inicial básica é de que é um ser social – fato(r) que se consubstancia pela necessária interação social – e daí segue-se à próxima conclusão, simplificada, mas objetiva: não há sociabilidade sem comunicação, ou seja, sem que o ser possa tornar público – em qualquer tipo de suporte, a começar pelo gestual ou pela linguagem –, não há construção coletiva de mensagens portadoras de significados ampliados além do ser que as emite.
Ou seja, sem reverberação ampliada, os significados não passam de sentidos expostos: isso todo animal faz. O que diferencia é a informação (qualificada) de que o outro já se sente portador – e daí, novamente, emissor de significados (informação e conhecimento) destinados a um coletivo. Castores também fariam isso, ou seja, produzir coletivos; no entanto, a intenção de construir a Polis é humana (ARISTÓTELES, 2001).
A intenção politizada – divulgada nos suportes da Política – resultou no humano como ser social, atuante portador e destinatário de seu futuro. Portanto, a divulgação demarcaria a origem da ontologia e da teleologia – e que, em verdade, apenas são suportes da ética – sociabilidade – e da racionalidade.
A técnica inicial desembocou, notoriamente, na civilidade: a capacidade civilizatória da Polis. A tecnologia – técnica ampliada a outros suportes que requerem um conjunto de técnicas aplicadas e sedimentadas materialmente – trouxe à Humanidade inúmeros suportes tecnológicos: do Direito Ocidental à democracia constitucional; do telefone (um-um) à propaganda/publicidade (um-muitos); do industrialismo do século XIX à virtualização da vida social (um-todos).
Também é obvio, portanto, que o incremento dos suportes tecnológicos outra lógica operacional (um-todos) e novas bases de responsabilidade privada e pública. No tocante a Polis, por exemplo, os segredos de Estado, arcana imperii (direito-poder), foram subsumidos gradativamente/constitucionalmente pelo direito/dever da publicidade dos atos de poder. Os atos de interesse público, antes guardados nas arcas do segredo, encontraram destino oposto com o avanço institucional do Princípio da Publicidade (BOBBIO, 2015).
Para onde vamos?
Hodiernamente, por outro lado, a difusão indesejada tem trazido toda sorte de problemas – da perda do controle sobre a intimidade/liberdade, à imposição de um controle social com lastro no discurso da segurança que ameaça a liberdade construída pelo Ser Social e politizado: no sentido de construtor da Ética do espaço público (RAMONET, 2016).
Nesta breve amostra do século XXI, após a materialização da ideia de Rede (MARTINEZ, 2001), a questão mais grave e relevante à vida de todos segue a inicial do processo: a quem serve a informação e o conhecimento? Dessa, derivam ainda outras:
Como transformar a informação (qualificada) em conhecimento que satisfaça a Humanidade?
Se o conhecimento não é, obviamente, isento de significados e de valores27, quem “lucra” com sua profusão?
Quem está em primeiro plano, a Humanidade ou o Poder Econômico28?
Quais são os imperativos éticos e políticos que circundam a informação (qualificada) transformada em conhecimento de alcance social?
Respostas já consagradas pela moderna democracia (Estado de Direito) incluem a construção de bases culturais e políticas (éticas) que obriguem à construção de canais de comunicação direta entre o Poder Público e o homem médio em sua vida comum.
A realidade específica da República brasileira requer a manutenção de alguns caminhos e a elevação de outros suportes:
Da instrumentalização de Ouvidorias ao implemento constitucional que traga o direito-dever de se praticar o accountability, ou seja, prestação de contas por meio da propagação dos atos públicos, sem recortes, deformações ou produções perfunctórias;
Da capacitação por meio da educação pública de qualidade, a fim de que se entenda o significado dos (antigos e modernos) Diários Oficiais, ao entendimento amplificado de que autonomia sem auditoria é autocracia.
Da construção de uma cultura da verdade, em substituição às práticas de falseamento, da própria cultura da mentira, em que se sobressaem interesses antirrepublicanos; quer seja no âmbito estatal, no chamado mercado, nas mídias, quer seja na formação da cidadania29.
Da condição humana de se fazer ser social pela ação integral da Política (como Polis) e não submetendo a cidadania ao ato evasivo do consumo de mercadorias, especialmente, sob a tutela dominante da relação de forças apresentadas sob as escusas do realismo político.
Barreiras verde-oliva
Ao revés do esperado pelo respeito ao comportamento salutar, a Presidência da República instala barreiras de plantas para impedir a visibilidade de quem entra ou sai do palácio, tanto quanto adiciona misturador de vozes nos gabinetes do poder30 – especialmente depois da ocorrência da gravação pelo empresário, que motivou o primeiro inquérito presidencial por corrupção, prevaricação e obstrução da justiça.
Na prática, não se trata de preservar interesses do Estado (BOBBIO, 2015). Pois bem, não seria o caso de se indagar – em regime republicano – se as conversas republicanas não podem (ou devem) ser ouvidas pela população, em vez de ofuscar o discurso do poder? Não é bem verdade que o povo nos diz que, “quem não deve não teme”? Então, por que as conversas palacianas são assim tão perigosas?
Esse, como será percebido, é um dos mecanismos que compõem o conjunto do antidireito (LYRA FILHO, 2002) que ronda e fundamenta o Cesarismo Constitucional31 e que, em contexto paralelo, mas com foco político-institucional denominamos de Cesarismo de Estado32 . Grosso modo, denominado como manobra jurídica que inviabiliza o (con)texto constitucional, é a salvaguarda de institutos políticos antidemocráticos e guardam recursos impublicáveis do poder constituído.
Basicamente, esse termo, Cesarismo Constitucional, indica que a Constituição não serve a fins democráticos e republicanos, mas sim autocráticos. Para um exemplo concreto, observe-se que o atual mandatário brasileiro, para se manter no posto, liberou em torno de 15 bilhões de reais ao Congresso Nacional na forma de emendas parlamentares33. O fato é que o “cofre está vazio” e deverá se utilizar de “pedaladas orçamentárias” para manter o poder sub judice. Na investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente teria cometido crime de corrupção, obstrução da justiça e prevaricação.
A conturbação constitucional está na contraprova de que foram as pedaladas fiscais que moveram o impeachment de sua antecessora na Presidência da República. Não bastasse a prova cabal endossada pelo STF, o então vice, e hoje chefe do Executivo, aprovou lei dura de contenção de gastos públicos: a mesma que faliu com a saúde e a educação pública, no que ainda faltava. Nesse sentido, o ocorrido em 2016 – episódio denominado eufemisticamente de “quebra institucional” – elevou o país a um patamar de engenhosidade e de mutação constitucional. O que ocorre em 2017 é o mais do mesmo, sem novidades, mas com gravidades.
A definição do jurista Karl Loeweinstein (1979) será preciosa neste sentido, ao retratar o Cesarismo – como recursos do mandante que segue César – no seu tom clássico e que fora empregado com galhardia ao longo do século XX: de Hitler a Nasser. O Cesarismo emprestou cópia autenticada ao próprio Napoleão Bonaparte. Discípulo do pensador alemão Max Weber, Loeweinstein (1979) propôs duas formas básicas de organização política: a autocracia e a democracia constitucional. A democracia faria respeitar o Império da Lei, sob princípios democráticos e republicanos.
A honra histórica de ter realizado, conscientemente, a metamorfose do constitucionalismo em instrumento útil para fins próprios autoritários, pertence a Napoleão, porque não há precedente estabelecido por Júlio César. Daqui, deriva a designação dos conceitos de cesarismo ou bonapartismo, como domínio autoritário, porém disfarçado de Estado constitucional democrático (LOEWEINSTEIN, 1979, p. 214-215)34.
O regime político-econômico do bonapartismo (MARX, 2011) – sob o golpe de Luís Bonaparte, na França de 1848, e no que copiou o tio Napoleão Bonaparte – tradicionalmente apresenta a justificativa da necessidade da redenção nacional, utilizando-se das classes sociais e populares desesperadas por migalhas (lumpemproletariado), emprega todos os meios de força legal/letal e de violência militarizada, bem como pode contar com o apoio do capital internacional para resolver problemas internos: a exemplo da Comuna de Paris, em 1871.
Não raramente invoca poderes sufragados pelo Absolutismo: como a própria legalização do Golpe de Estado. A “última razão dos reis” será a primeira regra dos grupos de poder perpetradores do golpe político/institucional. Da ultima ratio à prima ratio (exceção que se torna regra) há um só movimento de poder.
As nomenclaturas saltam pela história política, de acordo com maiores ou menores influências personalíssimas dos detratores da democracia: bonapartismo, cesarismo plebiscitário35, neopresidencialismo36, golpismo pós-moderno. Quando os julgadores não estão debaixo da lei, quer dizer, sob as implicações da mesma lei sob a qual se amparam para condenar outros, a mutação constitucional autocrática se recobre de uma fulcral proteção do Poder Judiciário37. Sem mencionar que fraudes piramidais são cometidas e plasmadas pelo mesmo poder acostumado a julgar outros, mas agora sem pressa alguma. Esse caso é mais conhecido como “mensalão da toga”38.
Se, conceitualmente, o jurista alemão designa o golpe truculento de Napoleão como “Cesarismo plebiscitário”, aqui denomina-se de Cesarismo Constitucional, de acordo com as manobras que se infere no Texto Constitucional, em prol, sobretudo, da autocracia que responde judicialmente. Sem se esquecer, outrossim, de que há muitas vertigens inconstitucionais e imorais na atual condução judicial do sistema político.
O conjunto da obra, avaliado no cenário internacional, aponta para um decréscimo do chamado “discurso ético”, em que concepções políticas e visões de mundo igualitárias e progressistas puderam surgir como (re)forma de um constitucionalismo de Justiça Social. Ou seja, o “endireitamento” da pauta política e jurídica deve perdurar por muito tempo, com perdas sequenciais e substanciais de direitos fundamentais sociais, com empobrecimento das camadas sociais mais vulneráveis39.
Filosofia constitucional contra o fisiologismo político
A Filosofia Constitucional, neste início de século, indubitavelmente traz marcas políticas e demarcações do constitucionalismo moderno (tradicional), quando se impregna a discussão, por exemplo, de se saber se a liberdade (individual e política) pode ser arrefecida diante da necessidade de segurança nacional.
No caso nacional, em crise política sistêmica, condicionada à catatonia imoral de corrupção sistemática, o debate político-econômico destila “reformas jurídicas” e nomes que agradem o mercado. Na concepção exposta neste texto, o que está em jogo não é apenas “sair da crise” compartilhando os custos da pobreza com os que já são pobres (trabalhadores), pois, mais profundo do que o resultado da crise (a miséria social) é a própria concepção que se tem da Humanidade e dos seus direitos inalienáveis.
A crise moral, econômica e política brasileira é pequena perto das consequências eivadas pela perspectiva imoral, e oportunista, que se construiu a partir da compreensão fisiológica da própria Filosofia Constitucional criada nos anos 70-80. O pior que já se observa no cenário nacional não é apenas a recessão econômica, por mais assustadora que seja, mas sim o retrocesso no padrão civilizatório: o fascismo.
Se os anos 70-80, na Espanha e em Portugal, revelaram o embate ao fascismo, assegurando-se constitucionalmente mecanismos de defesa contra ações antidemocráticas (MIRANDA, 1990), hoje assiste-se o pragmatismo atender aos apelos mais abjetos. Por exemplo, a reforma trabalhista aprovada permite que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em lugares insalubres para elas e para seus filhos. Admite-se, portanto, em nome do mercado, que os trabalhadores não tenham direito ao futuro.
Arrouba-se de não ter modificado a Constituição Federal de 1988 (art. 7º), em relação às férias e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), porém, a reforma trabalhista reparte as férias em três partes. Com a crise econômica, necessitando o trabalhador de “mais-dinheiro”, o período de descanso pode chegar a uma semana de férias: quando tiver “vendido” e assinado um termo de gaveta com o empregador. Leve-se em conta ainda o fato de que mulheres grávidas e lactantes poderão trabalhar em condições de insalubridade40.
Mas, em verdade, promove-se uma profunda alteração na CLT que equivale a alterar a substância do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88). Diz-se que se garantem as férias, mas as condições objetivas trazidas pela reforma a tornam inviável. Logo, vê-se que as “pequenas” mudanças na conjuntura – e nesse caso são gigantescas – alteram a estrutura: na observação dialética se diz que “a quantidade altera a qualidade” – ou quando o gênero legal (emenda constitucional) altera a espécie jurídica: princípio constitucional.
Esse caso, para ficar neste exemplo, promove uma espécie de atualização no que Bonavides (1980) denominou de “fraude à Constituição”. Para o jurista, mudanças parciais na Carta de Leis – em constância – equivale a mudar a substância do que aferido em princípios com o Texto Constitucional. Numa ação típica de que “a quantidade altera a qualidade”. Sem contar que esta ilegalidade configuraria atentado aos mandamentos constitucionais – Art. 60. CF/88 (BRASIL, 1988), conforme Bonavides (1980, p. 176):
Há também reformas parciais que, removendo um simples artigo da Constituição, podem revogar princípios básicos e abalar os alicerces a todo o sistema constitucional, provocando, na sua inocente aparência de “simples modificação de fragmentos do texto”, o quebrantamento de todo o espírito que anima a ordem constitucional. Trata-se em verdade de reformas totais, feitas por meio de reformas parciais. Urge, portanto, precatar-se contra essa espécie de revisões que, sendo formalmente parciais, examinadas, todavia, pelo critério material, ab-rogam a Constituição, de modo que se fazem equivalentes a uma reforma total, pela mudança de conteúdo, princípio, espírito e fundamento da lei constitucional. Nas sobreditas hipóteses temos no âmago essa deplorável consequência: a Constituição ab-rogada, configurando-se assim o fenômeno político que os publicistas consignam debaixo da designação “fraude à Constituição”. São frequentes os exemplos históricos dessa prática abusiva de violação da Constituição, em que as formas se resguardam para mais facilmente alterar-se o fundo ou a base dos valores professados. [grifos nossos]
No exemplo da reforma trabalhista, a mudança da lei inferior obnubila o sentido nomológico protetivo trazido sob a guarida de direito fundamental social na CF/88. Ou seja, a mudança imposta em lei menor alterou tão profundamente a prática jurídica que o sentido constitucional evaporou, bem como sua aplicabilidade não mais assegurar-se-á do mesmo modo.
Enquanto a Constituição é debatida, se pode ou não ser emendada, sempre com retrocesso democrático, esconde-se nos projetos de lei o real objetivo, a saber: a vida humana seria mais um metaprincípio.
A concepção criada no Brasil de 2017 para a Filosofia Constitucional revela muito:
i) a mera verificação que se quer empreender à Constituição, se limitada a ato decisional como ressonância do realismo político – ainda que em certas bases jurídicas;
ii) ou se, muito além disso, equipara-se a Constituição como reserva moral-institucional de uma avançada e consagrada concepção superior (geração) de direitos humanos fundamentais.
Essa é a diferença essencial em quem analisa a Constituição como Texto Magno (Império da Lei) ou Carta Política: democracia inclusiva. Se no primeiro caso está contente o legislador com a típica dominação racional-legal (WEBER, 1979), no segundo, é crescente – como legitimação – a vontade da Constituição que aprimora as defesas do processo civilizatório diante de refluxos antidemocráticos e antirrepublicanos.
No primeiro caso, a Lei Maior, trata-se de um conjunto de regras jurídicas que podem ser modificadas de acordo com o realismo político. Como Carta Política, ao contrário, além de se preservar o padrão civilizatório imposto pelo direito internacional, como a preservação dos direitos fundamentais, alterações na Lei não podem ferir a Justiça Social enquanto fonte constitucional de fomento à condição humana.
A condição humana (ARENDT, 1991), por sua vez, jamais poderá prescindir da ética republicana, posto que deriva diretamente seu sentido da plena realização do Princípio da Dignidade Humana, atuando como marco distintivo na passagem do ser social ao homem político.
A Constituição, sob o reducionismo positivista (ou fisiológico), está limitada à Lei que se contenta em ser limite da isonomia, assegurando-a se não houver deslize moral maior. A Carta Política, ao revés, impõe-se democraticamente como luta política que salvaguarde a República de um retrocesso moral, assegurando-se de encontrar fontes político-jurídicas de efetivação da equidade.
Na prática – do Judiciário e na vida comum do homem médio – passa a ser costumeira não apenas a violação constitucional, mas a possibilidade de que determinadas garantias não mais recebam a chancela de direitos humanos fundamentais. Não só o povo se acostuma com o retrocesso do padrão civilizatório – até porque a maioria não saboreou o contrário –, mas, assustadoramente, o Poder Judiciário se torna peça fundamental nesse processo.
São muitos os casos exemplares, mas basta recordar que crimes famélicos recebem penas de prisão e que, desconstituindo-se a CF/88, tribunais inferiores permitem que a matéria suba a julgamento no STF41. Para retomar a referida reforma capitalista de direitos, caberá ao juiz – monocraticamente – decidir se a lei aprovada terá efeito in mellius, retroagindo para prejudicar financeiramente o trabalhador42.
O exemplo começou a ser desfiado com a autorização dada à terceirização total: respondendo por cerca de 80% (oitenta por cento) dos acidentes de trabalho no ano, os terceirizados sofrem discriminação e segregação dos demais trabalhadores, têm redução nos salários e se desmobilizam na luta por mais direitos43.
Na lição que comporta melhor uma reflexão acerca do papel do Judiciário nacional frente aos enormes desafios da judicialização da política – uma vez que, sem auditoria (quer seja por meios de controle social44, quer seja mediante prestação de contas, a accountability), a autonomia se converte em ausência de responsabilidade e escorrega para os caminhos perigosos da politização das lides e do judiciário.
Há, assim, crescente aceitação de que a Constituição é uma lei e que pode/deve ser modificada de acordo com a necessidade política que se apresenta. Isto é, ganha força moral e normativa a “naturalização” de que os direitos humanos não são fundamentais: se o direito serve ao poder, no pragmatismo político é vencedora a naturalização da injustiça social. Se não há economia para todos, então, economize-se a distribuição de direitos; na crise econômica, salve-se o capital45.
A árvore do direito, portanto, resta envenenada se, pois, em vez de aportes democráticos e populares, impõe-se reservas ao direito por meio de ações, medidas e “direitos de exceção”. Um vazio de direito que será preenchido por mecanismos excepcionais (AGAMBEN, 2004).
Fruto da árvore envenenada e possíveis remediações
Politicamente, o que há de ser feito deve ser posto no plano fático, diante do realismo político que se apresenta. O ideal, como ação humana que se baseia na premissa de um futuro melhor, de nada adianta se está descolado do presente.
Assim, se uma árvore está podre por completo, para o cidadão consciente, todos os frutos dessa árvore também deverão estar corrompidos em suas propriedades, envenenados pela desqualificação. Pois bem, com o direito segue a mesma lógica: uma prova ilícita enterra o caso: “Tal pai, tal filho; se a árvore é podre, o fruto também é”.
A expressão longa manus quer dizer que um sujeito é a continuidade das mãos, das funções, dos saberes e dizeres, de outro. Tanto na boa-fé quanto na prática do crime, o segundo é mera extensão do primeiro. Lógica que, hipoteticamente, deveria valer para o pacato cidadão ou para a autoridade suprema de uma República46.
Na ânsia de manter a realidade do poder como sempre foi, assume-se o cometimento de graves falhas de concordância com o juízo, supostamente reconhecendo crime de que não se fora acusado47. Também por isso o conselho de ética parlamentar permanece um escárnio48.
Em compasso de espera para a república apequenada, o fiscal dos poderes está pintado em luzes obscuras na mídia oficial49. Afinal, juiz que investiga o Executivo federal não pode dever favores à empresa investigada na acusação de demolir a Ética50. Além do fato de que outro ministro vende bois para esta mesma empresa investigada no STF51: o mesmo que inocentaria o Caixa 2, em voto de minerva, no TSE.
Seguindo-se a sina do Judiciário, que julga com lastro de suposta moral/religiosa (do juiz julgador) e não com o direito decente, o caluniador recebe aval judicial para continuar a difamar quem já havia difamado publicamente52.
Outrossim, em que pesem as aproximações com o poder econômico financiador dos poderes investigados em incontáveis arapucas de enriquecimento ilícito, a presidência da “república” grampear, por meio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), o próprio juiz que a investiga é apequenar demais o Estado de Direito53. De tanto torto, de tão longe de seu ideal (direito = directum), o direito não é mais uma linha reta para a justiça: nem mesmo formalmente. Pelo menos nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal (STF) reagiu em nota mais dura ao processo ditatorial que assombra o país54.
Com a politização em extremos do Judiciário, sem Executivo que governe e um Legislativo envolto em extremos com a corrupção, uma saída garantida seria fortalecer o sistema político como um todo, revigorando-se a democracia de baixo para cima, de fora para dentro55. É preciso ampliar os espaços de refrigeração do sistema político, mas com mais democracia: participativa, inclusiva, decisiva para os interesses populares.
De todo modo, não se trata em absoluto de uma democracia gerida por juízes56, até porque seria um total desvio de finalidades – além do fato de que as ações judiciais podem correr em segredo de justiça e isto seria um contrassenso no cerne do sistema político. Bem como o Judiciário não está adaptado às investidas e investigações políticas, não se submetendo ao crivo da crítica popular.
No Judiciário reina a máxima – antipolítica – de que autonomia “sem auditoria é autocracia”. Inclusive porque, para quem combate a corrupção – em tese uma obrigação natural republicana e uma destaca função pública de determinados servidores públicos – tem-se revelado excepcional fonte alternativa de renda57. Fato que, se não é ilegal, traz ao menos receios morais: evidentemente, estando no âmbito do privado que absorve o público.
A crise político-constitucional que o país enfrenta desde 2016 (impeachment ou golpe?) constitui um exemplo marcadamente atual da Modernidade Tardia (GIDDENS, 1991) e isto quer dizer que, as repostas para o presente estão no passado (clássico) e no futuro: este denominado de pós-moderno (CHEVALLIER, 2009).
Do passado bonapartista, apontado por Loeweinstein (1979) ao modelo atualizado, refinado de reformas da Constituição que anulam sua eficácia democrática. No caso específico do Brasil de 2017, a operação se verificará ou por meio de reforma política ou pela atuação de uma assim denominada “mini reforma constituinte”.
Aqui, evidentemente, os direitos humanos fundamentais que atuam como empecilhos ao capital dominante ou aos anseios (mancomunados) pela aristocracia política tradicional seriam de uma única vez retirados, sem a necessidade de se passar pelo desgaste do debate congressual na apresentação de Projeto de Emenda Constitucional (PEC).
Seria o caso – tomando-se de outra manobra de antidireito, e se aproveitando do redentorismo para sair da crise de imoralidade –, de pautar a instauração de uma Mini Constituinte, a fim de modificar a Constituição naquilo que os Grupos Hegemônicos de Poder e o mercado desfiam como “impraticável”; visto que os alvos seriam, sobretudo, as políticas públicas (Constituição Programática) e os direitos humanos fundamentais.
O crime constitucional elevaria a superior o Poder Constituinte Derivado – removendo a força civilizatória do Poder Constituinte Originário (1985) – e, assim, o Congresso teria alcançado legitimidade para remover os obstáculos ao empenho do capital dominante (financeiro). Até mesmo as cláusulas pétreas seriam removidas por força de lei imposta pelo derivado, na ação inconstitucional de usurpação da condição histórica do Poder Constituinte Originário.
Nessa mágica surpreendente do Cesarismo Constitucional, o derivado se outorga mais forte e legítimo do que o originário. Na lição que retoma de uma anterior atribuição doutrinária, José Afonso da Silva (SILVA, 2002) elenca categorias de normas constitucionais que estariam fora do alcance do poder reformador: a começar pelos direitos fundamentais (Art. 60, §4º da CF/88).
Em continuidade às limitações materiais implícitas ou inerentes, apresenta-nos mais três nomenclaturas que a pretensa Mini Constituinte deveria se vergar e se abster salvo se se declara Cesarismo Constitucional, conforme Silva (2002):
“as concernentes ao titular do poder constituinte”, pois uma reforma constitucional não pode mudar o titular do poder que cria o próprio poder reformador;
“as referentes ao titular do poder reformador”, pois seria despautério que o legislador ordinário estabelecesse novo titular de um poder derivado só da vontade do Constituinte originário;
“as relativas ao processo da própria emenda”, distinguindo-se quanto à natureza da reforma, para admiti-la quando se tratar de tornar mais difícil seu processo, não a aceitando quando vise a atenuá-lo [...] A reforma constitucional nunca pode ser forma de destruir a Constituição. (Silva, 2002, p. 245-246 - grifo nosso).
Pois bem, se “a reforma constitucional nunca pode ser forma de destruir a Constituição”, então, a Constituição Federal de 1988 não poderia deixar de ser uma Constituição Programática, especialmente em tempos excepcionais em que o realismo político pretende uma constitucionalidade pragmática para atender aos reclamos do capital financeiro internacionalizado58.
No entanto, como estamos em tempos excepcionais, a solução para a crise (Mini Constituinte), então, estaria posta em uma “velha” e bem conhecida modalidade de golpe constituinte, como aponta Bonavides (1980):
A história constitucional francesa registra dois casos em que os limites traçados implicitamente ao poder constituinte derivado foram objeto de flagrante desrespeito. O primeiro ocorreu em julho de 1940, quando a Assembleia Nacional, reunida em Vichy, deliberou reformular a Constituição [...] O segundo se deu de modo expresso com a lei de 3 de junho de 1958, que abriu caminho ao advento do constitucionalismo degaullista [...] A experiência política da França [...] ofereceu-nos ainda à consideração um problema [...] o de precisar se o poder constituinte derivado pode ou não ser substituído pelo poder constituinte originário, à sombra de uma omissão constitucional. A controvérsia suscitada a esse respeito mostra os defensores da resposta afirmativa acostados a um argumento aparentemente lógico: o de quem pode o mais pode o menos. Em verdade, porém, o emprego de tal método viola a Constituição, assim na forma como no espírito, porquanto transgride as regras estabelecidas de convocação do poder constituinte, havendo neste caso uma singular modalidade de “fraude ao poder constituinte”. Foi o que aconteceu na França [...] em que o General Charles de Gaulle [...] valeu-se de um processo de revisão diferente do que ali fora previsto, dando, porém, a impressão de proceder legitimamente, por haver recorrido ao povo, fonte da soberania e titular do poder constituinte originário (BONAVIDES, 1980, p.177-178 – grifos nossos).
Como identifica Bonavides (1980), a quebra institucional ou “fraude à Constituição” implica em remover os artigos de legitimidade democrática. No exemplo mais popularizado pelas elites aristocráticas brasileiras, o modelo do “distritão” tem ganhado empuxo institucional: sua promessa se destina a eleger no Legislativo os principais caciques dos principais partidos, já engendrados no controle do Poder Executivo59.
Há, portanto, a engenhosa renovação do arcaico, outrora denominado de “neopresidencialismo” (LOEWEINSTEIN, 1979), quando a reforma capitalista de direitos atribui à Constituição (re)formas políticas autocráticas sob a capa de norma política modernizante – e redentorista em tempos de crise político-jurídica.
Golpismo pós-moderno
Se o “direito é poder” – a começar do Poder Legislativo –, o Direito é liberdade, pois, não há História do Direito que não tenha caminhado para mais espaços de e possibilidade de livre agir. A premissa de que tanto se incumbe a magistratura para formar a livre convicção não é menor em responsabilidade daquele que direciona o voto livre. Se a prática política é poder – tomando-se por base a luta pelos três poderes –, a Política será a própria definição (legalidade) e autorização (legitimidade) do exercício do poder: a começar do Poder Político regulado pela Constituição.
Afinal, nesse caso, também basta pensar que não é o Estado (poder instituído) que organiza a sociedade, mas sim exatamente o contrário. As sociedades humanas não nascem como Estados, ainda que não haja sociedade que desconheça o poder. A sociedade humana nasce da Política e do Direito; os quais podem (ou não) gerar direito positivo (codificado), bem como cada sociedade humana pratica políticas diferentes entre si – algumas sem a forma-Estado.
Alienar-se da política, portanto, é impossível: a não ser que se pense na condição de humanoide. O escravo, o mais-escravo de todos, conseguia identificar no outro a liberdade, ou seja, a Política. Ainda que tivesse, bem ou mal, a noção de que era um estado de coisas (status atribuído) que não se aplicava a ele e aos seus assemelhados em condição de não-humanos, o mais escravo de todos era ou é capaz de visualizar no diferente de si o real portador do direito: o liberto. As revoltas conduzidas por Zumbi dos Palmares e Spartacus – na Roma antiga – são apenas exemplos do mais escravo de si que pode verter-se em liberto dos outros.
De qualquer forma, ao se prognosticar o discurso apolítico (pré-humano) tem-se a conotação clara da desumanização. Porque, pelo mesmo viés, se a política não é um ideal que se faça sem combates, por óbvio, deverá ser feita, enquanto prática política, em meio ao jogo possível e com as cartas disponíveis – mas com a tela no Humano e no futuro. Mesmo que sejam cartas marcadas, é o que se tem para hoje, e mesmo que se queira algo bem diferente para amanhã, é preciso partir do presente.
O alienado, o que pretensamente retira a política de si, ao confundi-la com o realismo político, é o que se volta ao consumo imediato e disponível em escala no ambiente do shopping – e ainda que nem todos os consumidores dos shoppings sejam portadores dessa alienação da política. Embotado pelo retiro de si mesmo, o cidadão do shopping segue plasmado, contemplativo dos preços errados nas marcas certas.
O fato é que, para aquele que retira de si a política, não está distante o momento em que julga possível (natural) “comprar a política” ou corromper os políticos: a exemplo de quem compra ou vende o voto e a consciência aos chamados políticos profissionais.
Nesse caso, consciência política é a memória coletiva de todos que se fizeram por ação da política, mas, que se perde no momento da compra e da venda. Em seu afã de consumir, o alienado (“retirando-se da Política”) retira-se tão apressadamente da consciência da política (memória coletiva da humanização) que sequer vislumbra o fato de que consumir ou não é resultado da política econômica.
Equivale a pensar que o analfabeto é incapaz de “ler” adequadamente os fatos decorrentes da política educacional que o condena ao analfabetismo. Por isso, então, diz-se que este alienado da Política (autoexílio) é um analfabeto político. E, é óbvio, trata-se de um condenado a desconhecer que a Constituição é uma Carta Política, um conjunto de regras políticas essenciais firmadas de acordo com o embate entre o Ideal (o Direito na “constituição da sociedade”) e o plano real em que se pratica a política de inúmeros interesses: o realismo político, constante da luta política, no qual se move o sujeito de direitos.
Assim, se o direito está para a luta pelo direito, os direitos estão para a luta política na qual jogam o jogo da política e disputam parcelas de poder, entre si, todos os grupos, as camadas, os estratos e as classes sociais. De tal forma, o realismo político está para a luta de classes, bem como o direito está para a solução negociada das contradições, pois, ainda que aparentemente insolúveis, as contradições mais acirradas decorrem das opções articuladas pela política. O direito é resultado disto, jamais a sua negação, como se houvesse um direito isento de valores sociais em combate por espaços de poder.
Em suma, retirando-se da Política e do direito, inaugura-se o modelo fascista. Fascismo que trata com naturalidade a desnaturalização da Política, convertendo a todos e todas que se completam com o consumo diário de si e dos demais. Daí a aproximação ao título: “os cidadãos estão no shopping”. Porque o nazismo é uma modalidade de fascismo: a mais visceral, liminar, limítrofe, no tocante à negação da política e do direito.
No nazifascismo não há liberdade. Há ou pode haver sensação de segurança, mas não liberdade; tanto quanto não há direito e nem política. O direito da Polis, que na política seria emancipador, no fascismo é limitado como “direito ao poder”, dos que têm o poder de dizer o direito: sendo aos demais a mais simples imposição do poder. Pois, se houvesse direito, haveria direito à política e, se assim fosse, não haveria fascismo: se por este entendermos a ausência da Política – emancipadora, libertária, inclusiva, participativa.
O discurso apolítico, nos tempos da democracia formal condiz, por sua vez, com a prática antipolítica naturalmente ajustada ao fascismo; isto é, o discurso apolítico é o antepasto do fascismo. Por definição e pelas práticas acumuladas, mesmo que diversas, o fascismo reitera práticas antipolíticas.
Se a política faz o único, em meio à coletividade, é indicativo evidente de que na ação política de se fazer-humano haverá entrechoque e conflito de interesses. O que supõe a existência da diversidade. Por isso também se verifica em que medida o fascismo agride as formas ou as opções políticas que congregam a diversidade.
Outra condução fascista, vale dizer antipolítica, é a tentativa de inibição dos conflitos políticos que advêm da diversidade e, assim, torna-se ainda mais antidemocrático; sobretudo, se entendermos que a Política é o exercício do debate em torno de determinados interesses – e que, enfim, o debate e a oposição de elementos políticos diversos é a realidade da democracia: mesmo que formal.
A democracia, nesse escopo, é a realização da Política, uma vez que, dos embates na apresentação lógica (racional) dos elementos políticos advindos da diversidade política, faz-se a condição mínima de existência e de aparição do humano como ser Único (ontologia política) que se realiza na forma social do coletivo: a Humanidade.
Portanto, observa-se que o fascismo é antirracional ou institui formas irracionais em que se pretende conduzir as práticas políticas: a violência que retoma o espaço público, antes um reduto outorgado pelo Direito, é o caso mais grave. Ao invés da política, como uma condição ontológica do ser Único (coletivizado), o fascismo impõem o dever da antipolítica. Em tentativa de substituição do Direito, como forma social que tende a prevalecer na afirmação ontológica do ser humano, o fascismo fortalece práticas antipolíticas.
Se a Política é necessária e impositiva (natural), o fascismo – ao consumir (subsumir) a Política – desnaturaliza a realidade incondicional de que o humano (Único) faz política e, portanto, faz-se coletivo pela Política. Se o Direito é humano por essência, pois não há formas sociais sem atribuição de direitos, o fascismo institui o antidireito: a prática política em que o poder é a única fonte do “direito”, como se fora uma concessão de privilégios e não uma realidade ontológica das formas sociais.
Assim, o fascismo desnaturaliza a Política e regulamenta o “direito” como mero atributo de poder – leia-se poder instituído ou Estado (Poder Político). O Poder Político, que é “uma” forma da Política, ontologicamente opcional, sob o fascismo, torna-se “a única forma”: obrigatória, incondicional. E, é óbvio, torna-se “a” forma-Estado gerida pelos detentores do poder de dizer todos os direitos.
Se na democracia, o magistrado tem o poder de dizer a lei, aplicada ao caso concreto, no fascismo, ao revés disso, os “políticos profissionais” atribuem-se o poder de dizer o direito por inteiro. A violência, contida no direito, sob o fascismo retorna ao Poder Político como fonte geradora do próprio “direito ao poder” e, sob concessão, pode ser compartilhado com seus mandatários nas ruas (linchamentos) ou nos shoppings em total abstração da realidade política.