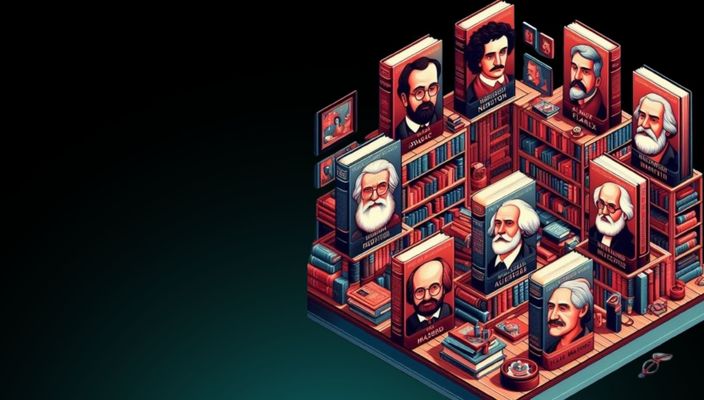5ª PARTE37
A educação libertária precisa enfrentar diretamente a consciência maquínica (Guattari, 1991). Esta (in)consciência é um tipo especial de pensamento positivista, é um "pensamento positivo acerca da técnica". Sem nenhuma consideração do "mal", a consciência maquínica é um pensamento deslumbrado, formado à base da reificação: em que pessoas e máquinas são iguais, são igualmente "coisas". Neste processo de contínuo "desencantamento do mundo", de racionalização progressiva e "civilizatória", como bem salientou Adorno (1995), há momentos estupendos, como também vemos dos mais estúpidos.
A consciência maquínica, entretanto, é mais do que isso, é um positivismo que se apega ao poder, um "positivismo com obsessão pelo poder", como veremos mais adiante. Esta talvez seja a lição mais importante de T. Adorno no clássico "Educação após Auschwitz": o que o autor chamou de "consciência coisificada" (ainda poderia ter dito que é toda "consciência apegada a coisas").
Goethe, com a sua clarividência da impossibilidade de todas as relações humanas que ameaçava a insipiente sociedade industrializada, tentou, nas novelas dos anos de viagem, apresentar o tacto como a informação salvadora entre os homens alienados. Esta informação afigurou-se-lhe inseparável da resignação, da renúncia à proximidade e à paixão não diminuídas e à felicidade duradoura. O humano consistia, para ele, numa auto-limitação que, conjurando-a, convertia em coisa sua o inevitável curso da história – a inumanidade do progresso, a atrofia do sujeito (Adorno, 2001, p. 30).
Para Adorno, a principal tarefa da educação é evitar Auschwitz: o próprio símbolo da consciência maquínica. Porém, Auschwitz é também o símbolo da modernidade e da civilização, em que predomina o "mundo administrado". Então, Auschwitz é "barbárie sofisticada" ou só civilização, e aí está o drama, pois não se combate apenas um dos lados desta contradição hodierna: "Se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de desesperador" (Adorno, 1995, p. 120). A civilização é a "barbárie racionalizada"?
A Bomba A lançada no Japão, para combater o fascismo, seria parte da mesma moeda. Outro dado aventado por Adorno é que, antes de Auschwitz, o nacionalismo (talvez o mais forte componente do Estado Moderno...) serviu de empuxo para o genocídio ou "assassinatos planejados e programados".
Neste sentido, a "educação após Auschwitz" tem uma missão espinhosa: combater os ícones da modernidade, os "mecanismos que produziram pessoas capazes de cometer atos tão horrendos": matar em nome da razão e de modo estritamente calculado (as linhas férreas que conduziam aos campos de extermínio eram as mais rápidas e "precisas" da Alemanha).
A educação que nos importa, portanto, é aquela que revela ("educare"), é "a educação que produz auto-reflexão crítica". Crítica a ponto de perceber as armadilhas da modernidade, este pensamento maquínico que nos "enreda" numa rede claustrofóbica:
É possível falar da claustrofobia das pessoas no mundo administrado, um sentimento de encontrar-se enclausurado numa situação cada vez mais socializada, como uma rede densamente interconectada. Quanto mais densa é a rede, mais se procura escapar, ao mesmo tempo em que precisamente a sua densidade impede a saída. Isto aumenta a raiva contra a civilização. Esta torna-se alvo de uma rebelião violenta e irracional [...] A pressão do geral dominante sobre tudo que é particular, os homens individualmente e as instituições singulares, tem uma tendência a destroçar o particular e individual juntamente com seu potencial de resistência (Adorno, 1995, p. 122).
Este "poder em rede", mas em "rede hierarquizada" em que um "nó" comanda os demais (a exemplo da "convergência nacional ascendente na manutenção da Razão de Estado), portanto, em sentido pejorativo de clausura que provoca a sensação de "emparedamento", também foi descrita por Bourdieu. Ambas as análises sugerem dramaticamente a necessidade do poder ser "visto", porque só assim poderia ser destacado, entendido e enfrentado 38.
De certo modo, é o oposto do que propunha Deleuze e o rizoma, um "poder em rede", mas sem cataclismo ou alguma forma de "teleologia da opressão". É como se a sociedade moderna fosse tecida sem fios, sem cabos, e menos suscetível à firmeza em que se baseia a soberania do Estado-Nação. É uma sociedade de platôs:
Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs [...] uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e que se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior [...] Cada platô pode ser lido em qualquer posição e posto em relação com qualquer outro (Deleuze, 1995, pp. 32-33 – grifos nossos).
Mas, será esta "concepção social" adequada ao modelo cibernético (diretivo) da Razão de Estado ou desse coletivo ou "geral dominante", de que falou Adorno?
Em sentido próximo, Foucault propunha exatamente um combate para além ou fora do modelo sincrônico do Estado Leviatã ou da Razão de Estado (aliás, como fazem ou procuram fazer todos os que lutam a "guerra de guerrilha):
...em vez de orientar a pesquisa sobre o poder no sentido do edifício jurídico da soberania, dos aparelhos de Estado e das ideologias que o acompanham, deve-se orientá-la para a dominação, os operadores materiais, as formas de sujeição, os usos e as conexões da sujeição pelos sistemas e os dispositivos estratégicos. É preciso estudar o poder colocando-se fora do modelo do Leviatã, fora do campo delimitado pela soberania jurídica e pela instituição estatal (Foucault, 1992, p. 186. – grifos nossos).
A luta está em sair dessa pressão do "geral dominante" e uma "saída pela educação" seria criar uma "consciência sobre o horror". Esta educação deveria nos preparar para resistir às autoridades com dimensões altamente destrutivas. A autoridade gerada na ausência da liberdade e da autodeterminação gera autoritarismos, "complexos sado-masoquistas", "síndromes e cultos ao personalismo" e de "salvacionismo".
Esse proto-fascismo (Eco, 1998), latente e lancinante, continua como um fenômeno social — não só da "consciência individual deformada". Assim, ver esta "rede opressiva" seria uma forma diferente, alternativa, revigorada de se "enredar por dentro do sistema", propondo-se uma outra entrada (nova) no sistema: "para além do Estado". De todo modo, é claro que este "círculo vicioso" do "poder circular" precisa ser evitado (a todo custo). Mas como, se é parte estruturante da modernidade clássica, da Razão de Estado e do próprio Estado Moderno?
Como ensinou Adorno, a perda da autoridade acirra o "pavor sado-masoquista" e, por isso, sempre há (haverá) quem queira fincar o pé nas hostes do poder: a "índole dos algozes". Isto leva a crer que precisamos ter na educação a vontade da não-participação na heteronomia, subvertendo-se o sentimento de "permanente estado de exceção de comando" (justamente o que leva ao Estado de Exceção). A educação deve "refletir", provocar o "Poder Heterônomo" e ensinar a dizer não 39.
Como se sabe, Adorno era um crítico da "cultura de massas", e os meios de comunicação acabavam por fortalecer essa "massificação": "Sobretudo é preciso atentar ao impacto dos modernos meios de comunicação de massa sobre um estado de consciência que ainda não atingiu o nível do liberalismo cultural burguês do século XIX" (Adorno, 1995, p. 126). A leitura de um clássico da literatura (mesmo "liberal-burguês) deve ensinar mais do que o "entretenimento" e a dispersão da TV.
Mas isto é "coisa do passado"? Não, pois há uma tendência de regressão à "consciência mutilada" que se reflete na não-liberdade e que se inclina à violência. Portanto, a "educação do não à heteronomia" é um combate à imposição dos coletivos e dos seus hábitos, folk-ways. É preciso combater a "cegueira" característica do "modelo viril da educação espartana", "a ferro e fogo", da disciplinarização e da "indiferença à dor" (de si mesmo e, principalmente, do Outro). Daí Adorno dizer que "o medo não deve ser reprimido", porque seria como reprimir a dor (e provocar mais indiferença). A repressão de sentimentos que alimenta os coletivos e suas consciências maquínicas.
É difícil combater os coletivos impostos porque aí se dissolvem as pessoas como "seres autodeterminados", impondo-se a todos um tratamento de "massas amorfas". O coletivo ainda produz um tipo aficcionado e manipulador, um verdadeiro adorador da realpolitik, sempre "mais realista do que o rei": "A qualquer custo ele procura praticar uma pretensa, embora delirante, realpolitik [...] Ele faz do ser atuante, da atividade, da chamada efficiency enquanto tal, um culto, cujo eco ressoa na propaganda do homem ativo" (Adorno, 1995, p. 129). Com esse grau de massificação, adoração do poder e "servilismo produtivo", a "desumanidade só poderia ter um grande futuro pela frente".
A "mesmice" ou "consciência coisificada" acaba, então, por se defender contra qualquer "vir-a-ser", porque só se reconhece o "ser-assim", sem se ter a mínima idéia de "como-ficou-assim". O que chamamos de consciência maquínica, é óbvio, também resulta disso, mas advém de uma relação ambígua: tanto há "racionalidade" (Weber diria "desencantamento"), quanto "fetiche pelo novo". É uma "adoração técnica":
Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece atualmente gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. Isto tem a sua racionalidade boa: em seu plano mais restrito elas serão menos influenciáveis, com as correspondentes conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a técnica existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao "véu tecnológico’. Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens (Adorno, 1995, p. 132).
Esses adoradores de "bugigangas tecnológicas" (alguém já falou em "chofer de computador") é o protótipo do que Adorno denominou de "sujeito experimental" que adora equipamentos e, lógico, experimentos: diríamos que é um positivista-consumista que adora se "equipar". O problema é que este "sujeito" se considera o próprio "espírito do mundo" e assim não percebe esta "racionalidade mesquinha quanto a fins", pois lhe faltam os "meios" para ver isto.
Auschwitz é precisamente o "espírito dessa civilização" em que vivem (sobrevivem) "pessoas civilizadas sem alteridade". Para Adorno, basicamente, só os "utópicos clássicos" perceberam que civilização e barbárie não se excluem, mas se completam, e que o nacionalismo gera a exceção: "Provavelmente até hoje nunca existiu aquele calor humano que todos almejamos, a não ser durante períodos breves e em grupos bastante restritos, e talvez entre alguns selvagens pacíficos" (Adorno, 1995, p. 135). Neste sentido, a utopia funciona bem como "escape", porque não reprime.
Por fim, precisamos enfrentar as "tradições do poder", o que nominamos de Poder Heterônomo: esse "poder aparentemente sem sujeitos", em que só vige a Razão de Estado. Na vigência desse Poder Heterônomo o sujeito é oculto, exatamente porque foi "ocultado" pela grandiosidade da Razão de Estado: "Seria preciso tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, para citar apenas um modelo: na medida em que colocamos o direito do Estado acima do de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente presente" (Adorno, 1995, p. 137. – grifos nossos).
"Após a educação de Auschwitz"
De lá para cá, o que aprendemos? O que será que aprendemos "após a educação de Auschwitz"? Será que aprendemos que é preciso combater o "hábito" da reprodução, o mecanicismo, todas as formas de determinismo, quase todos os "ismos"?
Por ironia ou infelicidade, para a maioria dos "clássicos da sociologia", educação é uma prática socialmente difundida, "reproduzida", mas nem sempre democrática ou sequer institucionalizada. Portanto, com ou sem escolarização, para este "viés sociológico", a educação constitui um processo de transmissão cultural, cuja tarefa elementar é a reprodução do sistema social (ou, se queremos amenizar, das "condições da vida social herdada"). Subentende-se aqui uma idéia subjacente de "Auschwitz após a educação".
A partir de Durkheim (quer como conformismo ou confirmação, quer como denúncia), temos visto que a educação serve à reprodução do sistema social. Para o próprio Durkheim, isto se dá mediante a ação/reprodução dos fatos sociais: a educação é um fato social. Para Bourdieu, a "reprodução do sistema social" se dá pelo habitus, pela família e outras instituições de socialização primária, por onde passam o social e o cultural.
Mas, será que pode(m) haver outro(s) modelo(s) para a educação e que passem pela liberdade, autonomia e "resistência ao mal"?
Para o filósofo-educador americano John Dewey, por exemplo, é impossível separar a educação do mundo da vida, porque a educação não é preparação nem conformidade: "Educação é vida, é viver, é desenvolver, é crescer". Para Dewey, "a escola é uma micro-comunidade democrática", o ponto de partida para a socialização democrática da sociedade como um todo. A sociedade democrática é mais plural e, por isso, pode haver igualdade de oportunidades dentro de um universo social de diferenças individuais. A diversidade leva à diferença, mas não à desigualdade, porque devem atuar mecanismos compensatórios, como ações afirmativas, "discriminação positiva" e a própria tolerância.
Uma das tarefas da "educação para a vida", portanto, é preparar o sujeito para a liberdade e igualdade. Um dos caminhos, certamente, seria "alavancar resistências ao mal". Para tomar um caso concreto, o mal maior provém das ameaças e do enfraquecimento do modelo democrático, ao mesmo tempo em que há um recrudescimento do uso/abusivo da coerção: uma espécie de Estado de Exceção Permanente. Portanto, a "educação para a liberdade" é toda forma de "educação contra as exceções (espúrias)", é toda "educação após Auschwitz" (Adorno, 1995), isto é, uma "educação contra o mal" sempre está contra o Estado de Exceção e seu inerente "direito à exclusão", querendo-se afirmar a liberdade (como "princípio educativo"). A luta, portanto, é em torno de muitas promessas da modernidade ainda não cumpridas.
A educação na modernidade tardia
A modernidade tardia, enquanto contemporaneidade, coloca-se entre a modernidade clássica e as bases da razão, como "luzes iluministas" da liberdade e da emancipação, para depois (des)construí-la sob a forma do "Estado de Exceção Permanente". Portanto, utilizando-se de uma figura de linguagem, "a modernidade perdeu a razão" (ao menos a razão que nos levaria à liberdade) e criou sua própria "razão instrumental": configurando-se a "crise da razão política" a partir da perspectiva da formação do Estado Moderno. Mais especialmente, essa "crise" consagrou a chamada "Razão de Estado" e desembocou no Estado de Exceção: o nazismo foi um "Estado de Sítio" que durou 12 anos.
Estávamos nos séculos XV e XVI, de Maquiavel à era do saber é poder (de Bacon), de Da Vinci e Galileu, mas partíamos para os séculos XVII e XVIII. Nesta fase, vimos variações e mudanças na Razão de Estado, fase em que o poder exerceu forte conotação de apoio ao status quo, fortalecendo-se ao mesmo tempo em que se aprimoraram as bases materiais e intelectuais de sua existência: da bússola e das grandes navegações à imprensa. Esta foi uma forma intermediária elaborada como "Estado de Necessidade": a primeira forma da exceção no ápice da Revolução Francesa. Houve aí uma "naturalização das necessidades políticas": necessitas legem non habet.
Portanto, não se trata de um corpo estranho, mas de metamorfose da Razão de Estado – um estágio aprimorado em termos técnicos de poder, para além da fundação do Estado Moderno. Também foi o "ponto de inflexão mais forte da razão": da Razão de Estado ao Estado de Exceção Permanente, intercalando-se com o Estado Cientificista.. Em suma, esta metamorfose permitiu a permanência da condição primária e autocrática da soberania.
O ponto de inflexão, de torção (ou extorsão) da razão em instrumento de poder, revelou que a modernidade perdeu a razão em um processo lento, corrosivo, transformando a "ratio" (elemento vivo e sincero do Iluminismo) em "razão instrumental". Por isso, o nazismo é considerado o ápice da "sociedade racionalizada": Adorno diria que o símbolo da modernidade é Auschwitz. Mas, Weber já alertara que o "desencantamento do mundo" é um processo secular, tendo-se iniciado a partir da própria "racionalização do sagrado". Weber ainda diria que "o erotismo é um gozo consciente", ou seja, racional, planejado, quase "não-emocional": nada "platônico".
Assim, com Weber, vimos a passagem do Iluminismo à razão instrumental, sob o argumento de que a "ética protestante" foi a mais ajustada ao "espírito do capital". Esta é a súmula da instrumentalização e não se trata de maniqueísmo, bem ou mal: o capitalismo é contraditório e tem dois lados, ou muitos lados e reversos. Trata-se apenas de um instrumento do sistema de poder hegemônico. Portanto, Weber foi o intérprete sagaz que visualizou a trajetória da ética protestante, como apta a conferir razão e instrumentalidade ao sistema de produção. Ainda que o processo de "desencantamento do mundo" tenha origem remota, como "ascetismo do mundo", é no contexto capitalista que o sagrado foi mais profano, quando ética e capital estão interligados, quando a "desmagificação" e a "perda de sentidos" se fizeram nítidos. Porém, curiosamente, quem melhor narrou esta fase não foi Weber.
Outros estavam ungidos de dor e de glória, com olhos saltados sobre o "caos construtivo", como: Hamlet (o Maquiavel da Literatura: "Se o grande cai, não possui mais amigos / Sobe o pobre, e não tem mais inimigos"); Goethe e o mundo fáustico que se abria com Mefisto; Balzac e as Ilusões Perdidas, listando "maldades e corrupções vulgares e mundanas"; Marx, no libelo insuperável da modernidade - afinal, hoje em dia, quem não sabe, não vê ou não crê que "tudo que é sólido desmancha no ar"?
A Razão de Estado forneceu os indicativos de que o sistema iria, rapidamente, instrumentalizar o poder. Neste sentido, a Razão de Estado teria sido a primeira manifestação clara de que "a política se converteria em razão instrumental", a serviço do Estado e dos grupos de poder hegemônicos. Weber foi, talvez, o autor que não só percebeu esse movimento, como perscrutou por seus caminhos mais inconfessáveis. A ética desse sistema, portanto, era (e é) a ética do poder instituído - mas instituído como poder ou soma de poderes em que se plasmaria toda a sociedade. Por isso, "a ética protestante desempenhou um esforço notável a serviço do espírito do capitalismo".
Pelas razões alegadas, a "modernidade tardia" não pode ser confundida com o que alguns chamam de "pós-moderno" (e mesmo que não saibam muito bem o que isto quer dizer). Mas, na verdade, esta modernidade tardia (aliás, o nome já diz) não é o pós-moderno e é mais do que este "não saber ao certo do que se trata".
No fundo, não há pós-moderno, quer dizer, como se fosse um "mundo novo" que veio depois da modernidade (pode ser que venha, daqui uns 200, 500 ou mil anos – quem sabe?).O que há hoje, na contemporaneidade, é a mesma modernidade desenhada há mais de quinhentos anos. Ainda que seja um lusco-fusco, meio confusa e "perdida de esperanças", numa área cinzenta, é a mesma modernidade.
Temos a mesma modernidade desenhada nos séculos XV-XVI e redesenhada nos quinhentos anos seguintes. De lá para cá, o que a humanidade tem feito é justificação, desculpando-se pelo que não fez. Vez ou outra tenta melhorar, promete a si mesma (e a nós), novamente, mas dificilmente tenta suprir as deficiências iniciais.
Do Renascimento (a "modernidade clássica" de Galileu, Leonardo da Vinci, centralização do Estado-Nação, expansão capitalista) ao Iluminismo (Revolução Francesa, "Séculos das Luzes", "a razão que liberta e só faz o bem"), por exemplo, as bases científicas mantiveram-se basicamente as mesmas (Voltaire não desmentiu Bacon: no "empirismo necessário à ciência moderna"), mas, politicamente, houve traição e foi dolosa.
No Iluminismo da Revolução Francesa, o sonho de um mundo livre, de igualdade e de fraternidade acabou na guilhotina e no Estado de Exceção (o mesmo que foi aplicado no Brasil, no Estado Novo de Getúlio e, depois, em 1964). Dos séculos XVIII-XIX vieram outras tantas "conquistas", derrotas e mais promessas. Uma das derrotas foi o soterramento da liberdade dos insurretos libertários e socialistas: a antevéspera do "proto-fascismo" e do nazismo.
Quando Mary Shelley escreveu o primeiro "romance de terror", publicado em 1848, impiedosa não era a assim denominada "criatura", mas sim Victor Frankenstein: o criador. Com este jovem brilhante e obstinado cientista em busca de glória e de ouro (do "Santo Graal"), tomara "corpo e alma" a própria desilusão com a ciência: suas vítimas, diria a escritora de apenas 19 anos, é toda a humanidade.
Também por essa época "mediana da modernidade", entre os séculos XIX-XX, as promessas passaram do movimento feminista ao voto popular, incluindo-se a "educação pública e gratuita".
Esta Educação Republicana, apesar de ser um dos projetos iluministas do "setecentos", só foi levada (um pouco) mais a sério quase duzentos anos depois – especialmente em países pobres como o Brasil (com as chamadas "reformas da educação").
Daí em diante (ou melhor, desde o Iluminismo), dizia-se: "a popularização do saber será a alavanca do progresso material e da democracia". Bem, como se sabe, no século XXI, nesta água turva contemporânea, olhamos para trás, para nós mesmos e buscamos desculpas para tudo que naufragou ou só ficou na onda das promessas.
Isto é a modernidade tardia, o contemporâneo, o passado-presente e suas promessas não-cumpridas: uma tentativa de acerto de contas com o passado. Não há pós-moderno - a não ser como retórica e uso de instrumentos e chaves não-sectárias -, porque a modernidade ainda não acabou (ou melhor, ainda tenta descobrir o que não foi capaz de fazer, mas que prometeu em nome da "alma mais pura").
A modernidade tardia, não é, portanto, um mundo de mentiras, mas sim de promessas – e é certo que muitas em vão. Na educação, por fim, a maior promessa descumprida é exatamente a do "ensino público e gratuito", mas de qualidade. Simplesmente não há qualidade no ensino público – salvo honrosas exceções – porque o usuário do sistema público não é "cliente", é só um "onerador de serviços" e para este (pobre) a qualidade é um bem de luxo.
Na modernidade tardia, no Brasil e na maior parte do mundo ocidental, para os pobres, "a qualidade permanece como um bem supérfluo".
Além dos males que já vimos em Auschwitz, é fácil perceber que a MODERNIDADE trouxe "novos" valores e mais conflitos, como a recusa do "pensamento metafísico" e a procura por um "paradigma científico", destacando-se a "pluralidade" e a "conflitualidade" (depois a incerteza e a fragmentação: ora chamada de Teoria do Caos, ora apropriada à "pós-modernidade"). Também nos trouxe outro "tipo" de conhecimento e de distinções acerca da realidade, obrigando-nos a abrir o leque da compreensão.
A modernidade, portanto, precisaria redefinir seus padrões também para a Educação — uma definição de EDUCAÇÃO ÉTICA, isto é, uma Educação Integral (permanente), no sentido da "socialização não-excludente 40": uma educação em que alunos e professores compartilhassem de uma visão de mundo de aproximação: de "legitimação da coisa ensinada" – e não como um "conhecimento estranho 41". Uma educação com visão de mundo de aproximação ou de "convicção" (Júnior, s/d). É preciso pensar uma educação ou práticas pedagógicas em que se seja possível tornar o Outro convicto de que se fala ou, ao menos, busca-se a verdade. Uma educação em que "alunos e professores queiram convencer-se e não vencer": como na disputa política (Saviani, 1989).
Uma EDUCAÇÃO REPUBLICANA, em que o compromisso sociológico do educador fosse político (não-partidário), mas focado em reconhecimento, convicção e validação da procura da verdade e do Outro. Uma educação política, mas não para se viver da política e sim para a política. Por isso não cabe o famoso "Alea iacta est" ("a sorte está lançada"), exatamente para que a autoridade educacional não fale como general: "A mãe do covarde não chora" ou, então, "isso é bom de se aprender, mesmo com o inimigo" (Ovídio). Esta "arte da educação", não-indiferente, mas fazendo oposição ao "realismo político" estaria, por fim, em contraste com o antigo provérbio da "arte da conquista": O conquistado de luto, o conquistador à vontade.
Então, que seja uma educação capaz de transformar necessidades em oportunidades para ser livre. Uma educação em que o mais importante seria perceber qual o projeto humano que está direcionando o atual "processo civilizatório". Em poucas palavras:
A educação na modernidade tardia precisa mais de superação do que de um ou outro modelo.
Uma política ética que se aplique à "educação do convencimento" não implica, necessariamente, que se deve evitar (para manter a "sobriedade") ou que se satanize os temas da modernidade e o fluente vigor tecno-científico. Quer dizer apenas que é preciso tratar a política, a tecnologia, o direito, a ética e a educação, cada um a seu tempo, e de forma responsável e "democraticamente comprometida com a dignidade humana".