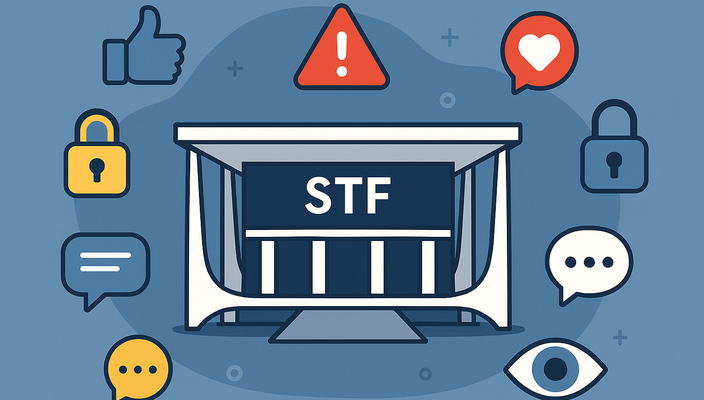O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os limites da liberdade de expressão nas plataformas digitais representa um marco crucial para o direito constitucional brasileiro e para o enfrentamento dos desafios contemporâneos da era digital. A decisão a ser tomada pela Corte envolve a análise dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, e o direito à proteção contra discursos nocivos, desinformação, ódio e outras formas de violência simbólica que circulam amplamente na internet. Esse julgamento não se restringe apenas à resolução de um caso concreto, mas pode se tornar um ponto de inflexão na forma como o ordenamento jurídico brasileiro lida com a regulação do discurso digital e o papel das grandes plataformas tecnológicas no controle de conteúdos.
A problemática central gira em torno da proteção da liberdade de expressão, essencial à democracia, que, embora deva ser amplamente garantida, não pode ser utilizada como pretexto para práticas prejudiciais à ordem pública, à dignidade da pessoa humana, ou à integridade das instituições democráticas. O STF será chamado a equilibrar esses direitos em um cenário onde as redes sociais e outras plataformas digitais operam com vasto poder de moderação de conteúdo, o que pode, por vezes, gerar situações de censura ou violação dos direitos dos usuários. A Corte terá que definir limites claros para essa moderação, estabelecendo quando a remoção de conteúdo é justificada e em que situações o direito à liberdade de expressão deve prevalecer.
Além disso, o julgamento do STF também se relaciona com a regulamentação da atuação das plataformas digitais e sua responsabilidade pela veiculação de informações. Essas plataformas, que funcionam como curadoras de conteúdo, precisam ser responsabilizadas pela disseminação de informações falsas, discursos de ódio ou outros conteúdos prejudiciais, mas sempre respeitando os princípios da transparência, imparcialidade e o devido processo legal. A decisão do STF tem implicações não apenas para o direito brasileiro, mas também para o cenário internacional, visto que o Brasil se insere em um contexto global de debates sobre o controle de conteúdos na internet, a desinformação e as práticas de censura privada.
Ao decidir sobre os limites da liberdade de expressão digital, o STF também deverá abordar a questão da educação digital e do letramento midiático. A crescente utilização da internet exige que os cidadãos sejam capacitados para discernir informações verdadeiras de falsas e para exercer sua liberdade de expressão de forma responsável. Nesse contexto, a educação digital torna-se uma ferramenta crucial para garantir que a sociedade faça uso de suas ferramentas de comunicação de maneira ética e informada.
O impacto dessa decisão será sentido em diversas áreas, incluindo a política, a economia e a dinâmica social. A moderação de conteúdo nas plataformas digitais, quando feita de maneira ética e transparente, pode ser uma poderosa ferramenta contra os excessos da comunicação digital, garantindo que o espaço público virtual seja preservado para o debate democrático e a livre troca de ideias. No entanto, a regulação inadequada pode acarretar riscos de autoritarismo digital e limitar a liberdade de expressão de maneira excessiva, o que exigirá vigilância e uma governança eficiente sobre essas plataformas. Assim, a decisão do STF não apenas terá efeitos no Brasil, mas poderá também estabelecer um precedente para outros países, configurando-se como uma referência global em relação à regulação do discurso digital.
Portanto, a decisão do STF sobre os limites da liberdade de expressão nas plataformas digitais é um tema de enorme relevância, com repercussões jurídicas, políticas e sociais de grande envergadura. O STF tem a responsabilidade de construir uma jurisprudência que respeite a liberdade de expressão enquanto assegura que os direitos dos cidadãos sejam preservados no ambiente digital. O desafio consiste em encontrar um equilíbrio entre a proteção da dignidade humana, a luta contra a desinformação e a manutenção de um espaço democrático e plural na internet. O julgamento do STF representará um marco no desenvolvimento de um sistema jurídico capaz de enfrentar os dilemas da era digital, com vistas a garantir um futuro de liberdade, justiça e responsabilidade nas plataformas digitais.
Palavras-chave: Liberdade de expressão. Plataformas digitais. Moderação de conteúdo. STF. Direito constitucional. Desinformação. Censura digital. Direitos fundamentais. Democracia digital. Responsabilidade das plataformas. Direito à informação. Governança digital. Educação digital. Letramento midiático. Censura privada. Violação de direitos. Discurso de ódio. Desafios digitais. Jurisprudência do STF. Regulação de conteúdos. Segurança digital. Direitos humanos. Implicações políticas. Tecnologia e direito. Controle de discurso. Internet e democracia. Pluralismo. Direitos do cidadão. Regulação da internet. Direito internacional.
I. INTRODUÇÃO
O advento das plataformas digitais transformou radicalmente o modo como a informação é produzida, compartilhada e consumida. Em um cenário globalizado e hiperconectado, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas desempenham papel central na mediação do discurso público, influenciando comportamentos sociais, decisões políticas e até mesmo o funcionamento das instituições democráticas. Contudo, o mesmo espaço que possibilita a democratização da comunicação também se tornou terreno fértil para a proliferação de discursos de ódio, notícias falsas e campanhas de desinformação. Frente a esse fenômeno, surge a complexa questão jurídica: é constitucionalmente legítimo responsabilizar civilmente as plataformas digitais por conteúdos prejudiciais publicados por seus usuários? Essa dúvida, que perpassa direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, desafia o ordenamento jurídico brasileiro e encontra no Supremo Tribunal Federal o foro adequado para uma definição com força vinculante e efeito nacional.
O presente artigo tem como objetivo analisar a constitucionalidade da responsabilização civil das plataformas digitais por atos de terceiros, particularmente quando envolvem discursos de ódio e desinformação. Pretende-se, com base em fundamentos constitucionais, doutrinários e jurisprudenciais, compreender se e em que medida é possível compatibilizar a proteção à liberdade de expressão com a imposição de deveres de moderação e prevenção às big techs. O tema, já presente em debates legislativos e judiciais no Brasil e em diversas democracias consolidadas, demanda resposta clara e uniforme do Supremo Tribunal Federal, cuja atuação recente indica tendência à ampliação do controle e responsabilização de agentes privados do setor tecnológico.
I.I. A ascensão das plataformas digitais e o desafio da moderação de conteúdo
O crescimento exponencial das plataformas digitais nos últimos vinte anos transformou a lógica tradicional da comunicação social. Empresas como Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), X (antigo Twitter) e TikTok passaram a deter o controle das principais ferramentas de disseminação de conteúdo e informação no mundo, substituindo, em grande parte, os veículos tradicionais de imprensa. Esse novo ecossistema digital, marcado pela interatividade em tempo real e pelo alcance global, trouxe incontáveis benefícios para o exercício da liberdade de expressão, permitindo que qualquer cidadão produza e compartilhe conteúdos com audiência potencialmente ilimitada.
No entanto, a natureza descentralizada e algorítmica dessas plataformas também promoveu a propagação acelerada de conteúdos nocivos, como discurso de ódio, incitação à violência, apologia ao racismo, misoginia, homofobia, xenofobia e campanhas de desinformação, especialmente durante processos eleitorais ou crises sanitárias. Tais fenômenos não ocorrem de forma acidental: são, muitas vezes, incentivados por modelos de negócio que priorizam o engajamento e a viralização, independentemente do conteúdo. A lógica algorítmica impulsiona publicações extremistas, que geram reações emocionais intensas, contribuindo para a polarização e o tensionamento do espaço público democrático.
Diante disso, surge a necessidade de repensar o papel jurídico das plataformas digitais, que historicamente se posicionaram como meras intermediárias neutras, sem responsabilidade pelos conteúdos publicados por terceiros. A legislação brasileira, especialmente o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), adotou em seu artigo 19 um modelo de responsabilidade condicionada: as plataformas só respondem civilmente caso não removam conteúdo após ordem judicial específica. Esse modelo, embora visasse proteger a liberdade de expressão e evitar censura privada, tem se mostrado insuficiente para conter a escalada de abusos, sobretudo quando há omissão dolosa ou reiterada das empresas diante de violações evidentes.
Além disso, há crescente jurisprudência no Brasil e em cortes estrangeiras que questiona a neutralidade das plataformas, especialmente quando seus algoritmos atuam como curadores de conteúdo, promovendo ativamente determinados tipos de discurso. Essa nova realidade levanta dúvidas sobre a validade de continuar tratando essas empresas como simples hospedeiras técnicas, e não como agentes ativos da comunicação. A moderação de conteúdo, portanto, não é mais uma escolha facultativa, mas uma responsabilidade jurídica que pode, e deve, ser avaliada sob a ótica da função social das plataformas e da proteção de direitos fundamentais.
Assim, a discussão sobre a responsabilização civil das plataformas digitais por conteúdos de ódio e desinformação não se limita à esfera técnica ou comercial. Trata-se de um verdadeiro conflito constitucional entre princípios de igual hierarquia: de um lado, a liberdade de expressão; de outro, a dignidade da pessoa humana, a honra, a segurança pública e o direito à informação verídica. A complexidade desse debate exige uma atuação firme e criteriosa do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, que tem a missão de harmonizar valores constitucionais em conflito e de estabelecer diretrizes vinculantes para todo o país.
I.II. O papel do Supremo Tribunal Federal na mediação entre liberdade de expressão e responsabilidade digital
O Supremo Tribunal Federal tem se consolidado como um ator central na regulação dos conflitos que emergem da revolução digital, especialmente no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais em ambientes virtuais. Em diversas ocasiões, a Corte teve que se posicionar diante de colisões entre a liberdade de expressão e outros bens constitucionalmente tutelados, como a honra, a imagem, a intimidade, o direito à informação e a integridade das instituições democráticas. O desafio do STF é não apenas julgar casos concretos, mas também estabelecer parâmetros normativos que sirvam de orientação para a sociedade civil, o Poder Legislativo e as próprias plataformas.
Nos últimos anos, julgamentos como a ADPF 403 (direito ao esquecimento), a ADI 5527 (validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet) e o Inquérito das Fake News (INQ 4781) mostraram a disposição do Supremo em enfrentar temas altamente sensíveis e de repercussão global. Em todos esses casos, a Corte teve que ponderar entre o risco de censura prévia e a omissão estatal na repressão a condutas que atentam contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito. A jurisprudência do STF tem sinalizado, ainda que de forma fragmentada, uma tendência ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária das plataformas, especialmente quando há falha na moderação ou omissão dolosa.
A declaração de repercussão geral sobre a constitucionalidade da responsabilização civil das plataformas digitais por discurso de ódio e desinformação representaria um marco no enfrentamento desse novo campo jurídico. A fixação de tese com força vinculante permitiria uniformizar decisões judiciais em todo o país, reduzindo a insegurança jurídica que hoje marca a atuação de magistrados, promotores, advogados e defensores públicos. Além disso, contribuiria para um debate mais qualificado no Legislativo, que frequentemente tenta regulamentar o tema sem consenso técnico ou constitucional.
É preciso reconhecer que a ausência de diretrizes claras por parte do STF favorece tanto o arbítrio das plataformas, que agem com base em termos de uso privados e muitas vezes obscuros, quanto o ativismo punitivo de alguns tribunais locais, que impõem censura desproporcional ou medidas de remoção genéricas. A Corte Constitucional brasileira tem a função precípua de equilibrar os polos da controvérsia, assegurando que a liberdade de expressão não sirva de escudo para práticas ilícitas, nem tampouco que a moderação de conteúdo se converta em mecanismo de opressão política, religiosa ou ideológica.
Portanto, cabe ao STF estabelecer, com a clareza necessária, os limites e possibilidades da responsabilização civil das plataformas digitais. Isso implica definir quando a omissão das empresas configura ilícito indenizável, em que hipóteses se aplica a responsabilidade objetiva e quais os parâmetros mínimos de diligência exigíveis para que essas corporações exerçam sua função social sem violar a Constituição. Mais do que uma questão jurídica, trata-se de um debate civilizatório sobre os rumos da democracia digital e da proteção de direitos fundamentais no século XXI.
II. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SEUS LIMITES CONSTITUCIONAIS
A liberdade de expressão é um dos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, sendo reconhecida como condição indispensável ao livre exercício da cidadania, à circulação de ideias e ao controle social sobre os poderes públicos e privados. No Brasil, esse direito encontra amparo no artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, e também nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o país é signatário, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Apesar de sua centralidade no ordenamento jurídico, a liberdade de expressão não é absoluta, estando sujeita a limites quando colide com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a dignidade humana e a segurança da coletividade.
A complexidade do tema se acentua diante das novas tecnologias de informação e comunicação. Com o avanço das redes sociais, blogs, podcasts e outras plataformas digitais, a liberdade de expressão ganhou contornos inéditos, pois passou a ser exercida de forma massiva e sem mediação institucional, muitas vezes em tempo real e com alcance global. Esse novo cenário demanda uma releitura dos limites jurídicos desse direito, sobretudo diante da crescente disseminação de discursos de ódio, ataques pessoais, campanhas de desinformação e manipulação política por meio de algoritmos e robôs.
O desafio constitucional está justamente em estabelecer os critérios que permitam equilibrar o livre fluxo de ideias com a proteção de indivíduos e grupos vulneráveis, assegurando que a liberdade de expressão não seja instrumentalizada para fins antidemocráticos ou violadores de direitos humanos. Nessa perspectiva, os subitens a seguir aprofundam os fundamentos teóricos e jurisprudenciais da liberdade de expressão, bem como seus limites à luz da Constituição de 1988.
II.I. A fundamentação constitucional e doutrinária da liberdade de expressão
A liberdade de expressão ocupa posição de destaque entre os direitos fundamentais de primeira geração, sendo essencial para a consolidação do pluralismo político, da autonomia individual e da democracia deliberativa. Na Constituição brasileira, sua previsão não se restringe ao artigo 5º, inciso IV, mas também se manifesta nos incisos IX (liberdade de expressão artística, científica e de comunicação), XIV (acesso à informação) e no artigo 220, que trata especificamente da liberdade de manifestação no âmbito da comunicação social. Esse conjunto normativo reflete uma opção política do constituinte de 1988 pela promoção ampla da liberdade comunicativa, em sintonia com os valores da dignidade da pessoa humana, da cidadania e do pluralismo.
A doutrina constitucional brasileira e estrangeira reconhece três dimensões da liberdade de expressão: a liberdade de emitir opiniões (liberdade ativa), a liberdade de receber informações (liberdade passiva) e a liberdade de buscar informações (liberdade investigativa). Esses três eixos garantem a circulação de ideias e formam a base da chamada “esfera pública comunicativa”, na qual se desenvolvem os debates essenciais para a democracia. Autores como Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, Luís Roberto Barroso e Owen Fiss defendem que a liberdade de expressão é não apenas um direito individual, mas também um bem coletivo que protege o funcionamento saudável da sociedade democrática.
No entanto, para que essa liberdade cumpra seu papel emancipador e formador da opinião pública, ela deve operar dentro de um ambiente livre de coerções, intimidações e violências. O exercício do direito à manifestação não pode comprometer os direitos da personalidade, nem servir de pretexto para legitimar práticas discriminatórias, ofensivas ou mentirosas. É nesse contexto que o ordenamento constitucional impõe limites à liberdade de expressão, estabelecendo um modelo de convivência entre direitos em tensão.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas ocasiões sobre a importância da liberdade de expressão, afirmando que ela deve ser protegida com rigor, inclusive contra tentativas de censura velada. Todavia, a Corte também tem reconhecido que esse direito não pode ser utilizado como escudo para o cometimento de abusos, sobretudo quando se trata de discursos que incitam à violência, disseminam ódio ou comprometem a ordem democrática. O desafio está em criar critérios objetivos para definir os contornos da expressão legítima e da manifestação ilícita, considerando o contexto, o conteúdo e o alcance das mensagens.
A responsabilização das plataformas digitais, nesse sentido, surge como uma extensão lógica da função protetiva da Constituição, exigindo que os agentes intermediários que lucram com a veiculação de conteúdo também assumam deveres proporcionais de cautela, prevenção e reparação. Essa lógica já foi reconhecida em temas correlatos, como a responsabilidade da imprensa, dos veículos de mídia e das instituições de ensino, e sua aplicação ao ambiente digital representa um avanço na tutela dos direitos fundamentais no século XXI.
II.II. Os limites constitucionais da liberdade de expressão frente à dignidade humana e à desinformação
Embora a liberdade de expressão seja direito fundamental, seu exercício encontra limites claros quando confrontado com outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a vedação ao anonimato (art. 5º, IV), a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5º, X), a proteção à infância (art. 227) e a necessidade de combate a toda forma de discriminação (art. 3º, IV). Tais limites não devem ser entendidos como formas de censura, mas como mecanismos de proteção dos direitos da coletividade e das vítimas de abusos comunicacionais.
A dignidade da pessoa humana, como princípio estruturante da ordem constitucional, estabelece um patamar mínimo de respeito que não pode ser transgredido, ainda que sob o pretexto de manifestação livre. Isso significa que discursos ofensivos, injuriosos, racistas, misóginos, homofóbicos ou antidemocráticos não se qualificam como expressão protegida. Ao contrário, constituem desvios da finalidade constitucional do direito à liberdade de expressão, merecendo repressão jurídica proporcional e adequada.
Além disso, o fenômeno contemporâneo da desinformação – compreendida como a disseminação deliberada de notícias falsas com fins políticos, econômicos ou sociais – impôs um novo desafio aos ordenamentos jurídicos. Campanhas de fake news têm sido responsáveis por deslegitimar processos eleitorais, desacreditar instituições científicas, fomentar movimentos antidemocráticos e provocar graves danos à saúde pública, como ocorreu durante a pandemia de COVID-19. A proteção da liberdade de expressão não pode servir de pretexto para blindar esses comportamentos.
A jurisprudência internacional, especialmente das Cortes Constitucionais da Alemanha, dos Estados Unidos e da União Europeia, tem apontado para a necessidade de um teste de proporcionalidade rigoroso quando há colisão entre liberdade de expressão e outros bens jurídicos relevantes. No Brasil, o STF já sinalizou, em decisões emblemáticas, que a liberdade de expressão não é absoluta e deve ceder diante de discursos de ódio, ameaças, calúnias e difamações que afetem direitos alheios ou a estabilidade do regime democrático.
O papel das plataformas digitais nesse cenário é crucial, pois sua arquitetura tecnológica pode tanto reforçar quanto mitigar os danos provocados por conteúdos abusivos. Quando essas empresas deixam de agir diante de violações claras, mesmo após notificação ou ordem judicial, elas não apenas descumprem deveres legais, mas também violam a confiança social depositada em seu serviço. A responsabilização, nesses casos, é medida não apenas jurídica, mas também ética e democrática.
Assim, os limites constitucionais à liberdade de expressão devem ser compreendidos como garantias de convivência civilizada e plural. O ordenamento jurídico não deve proteger qualquer manifestação, mas apenas aquelas compatíveis com os valores fundantes da Constituição. O STF, ao julgar a constitucionalidade da responsabilização das plataformas digitais, terá a oportunidade de afirmar que a liberdade de expressão no Brasil não é um cheque em branco para o ódio, a mentira ou a destruição da democracia.