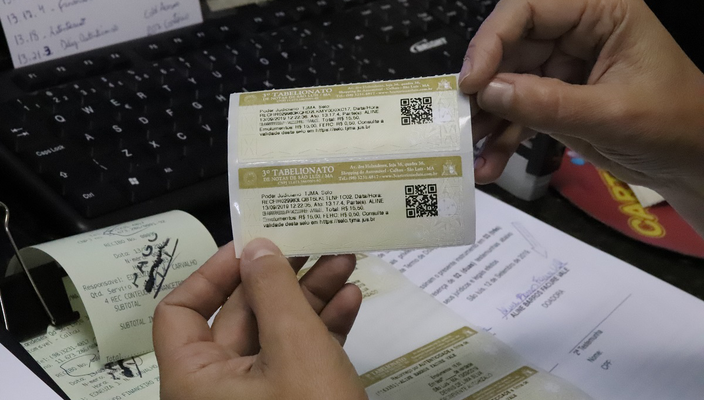Resumo: O presente estudo faz uma breve análise a respeito da organização judiciária do Estado do Maranhão, no que tange aos serviços prestados pelas serventias extrajudiciais desde o período colonial até a vigência da atual Constituição Federal.
Palavras-chave: Legislação – Organização Judiciária – Direito Notarial – Direito Registral – Serventia Extrajudicial – Fé Pública – Delegação Cartorária - Cartório.
Sumário: 1. Introdução. – 2. Histórico. – 3. Atos precursores dos registros notariais. – 4. Organização judiciária colonial no Estado do Maranhão. O judiciário nesse contexto até nossos dias. – 5. Da fé pública como princípio cardeal da delegação cartorária. – 6. Da atual organização judiciária do Estado do Maranhão. Código de normas da corregedoria geral da justiça do Maranhão. Antecedentes constitucionais. 7. Espécies de serventias extrajudiciais na estrutura da organização judiciária brasileira e maranhense. 8. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
Tenho a mais pura convicção de que abordar temas que os delegatários possuem vastos conhecimentos constitui arriscada empreitada, principalmente pelo fato de não ser titular de delegação cartorária, muito menos ministrar disciplina ligada ao estudo em qualquer nível de ensino. No entanto, arrisco-me a discorrer sobre o módulo que vamos estudar, qual seja Legislação de Organização Judiciária, voltado para as serventias extrajudiciais, haja vista ser uma bússola orientadora que todos os operadores das serventias e nós juízes, aplicadores do direito específico, necessitamos conhecer, ainda que em algum aspecto particular.
No meu caso particular, o faço pelo fato de ter competência jurisdicional para atuar nas matérias que dizem respeito aos atos cartorários de delegação pública extrajudicial, bem como ser estudioso do Código de Normas da Corregedoria do Estado do Maranhão, assim como da legislação que regulamenta o exercício das serventias extrajudiciais por delegatários nos termos regulamentados pela Constituição Federal.
Contudo, tenho certeza que as inquietações sobre o assunto são de âmbito geral. Prova disso é o fato de que, não raras vezes, os delegatários suscitam dúvidas a nós juízes, titulares das Varas de Registros Públicos, sobre questões que lhes causam perplexidades e a nós também.
Com essa certeza, tenho a tranquilidade de que a nossa convivência acadêmica será harmônica, produtiva e de grande aprendizado, conquanto nos diálogos interativos que estabeleceremos neste estudo, trocaremos experiências e compartilharemos conhecimentos que contribuirão para o desate de certas controvérsias, bem como para a atividade cartorária extrajudicial e, finalmente, para a minha profissão docente e forense.
Nesta breve análise, focaremos nossa explanação no sistema judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Código de Normas da Corregedoria), sem descurar exemplos ou precedentes de outros estados que possam ser úteis ao nosso estudo.
2. HISTÓRICO
O primeiro magistrado a pisar em solo brasileiro, quando nosso país, após o descobrimento, fora denominado “Terra da Santa Cruz”, foi frei Henrique Soares de Coimbra, outrora desembargador do Paço em Lisboa1. O Desembargo do Paço, registre-se de passagem, era um tribunal de graça, algo como uma corte suprema de graça e justiça. Como registra a história de nosso país, foi esse religioso que celebrou as duas primeiras missas no Brasil, logo após o descobrimento.
Destarte, o início da colonização e a primeira manifestação de Judiciário em território nacional (à época chamado de Terra da Santa Cruz) foi exatamente com a chegada da esquadra de Pedro Alvares Cabral, embora não tenha o frei Henrique Soares de Coimbra chegado na terra achada como magistrado, nem tenha exercido, em tempo algum, a função judicante em nosso país.
Assim, as duas primeiras missas celebradas em solo brasileiro, repita-se, foram presididas por um antigo magistrado, que judicara no referido tribunal e trocara a toga pela batina católica.
Aliás, a relação do Judiciário com a religião nos tribunais brasileiros é antiga; prova disso é que uma Lei de Dom Felipe, rei de Portugal, datada de 07/03/1609, determinou que antes que os desembargadores se reunissem para despachar processos e proferirem julgamentos, mandassem rezar missa por “hum Capellão, que o governador para isso escolher, e será pago à custa das despezas da Relação...”2
Nessa perspectiva, convém voltarmos ao ano de 1500, precisamente à Carta de Pero Vaz de Caminha, remetida a Dom Manuel, rei de Portugal. Nela reputo estar consignada a origem do Direito Notarial e Registral Brasileiro, bem como a certidão de batismo de nosso país, posto que nesse documento histórico o mencionado escrivão da frota de Cabral, primeiro escriba a pisar em solo brasileiro, fez anotações e registros preciosos, que outorgaram ao referido monarca o direito de reivindicar a posse e propriedade sobre o solo, o subsolo, fontes aquáticas, áreas vegetais, animais silvestres, etc., existentes nas terras brasileiras.
No entanto, o primeiro a chegar à futura colônia lusa, investido com poder judicante (entre outros poderes), foi o fidalgo Martim Afonso de Sousa, este sim investido de poderes supremos pela coroa portuguesa (Rei Dom Manuel I, “o venturoso”) para aplicar o direito lusitano, vigente à época aos povos residentes na terra conquistada.
Recorde-se que, por dois alvarás de 1516, o rei Manuel I determinara medidas da maior importância, para o início da colonização da terra que Pero Vaz de Caminha atestara, em carta dirigida ao rei, ser “de muito bons ares... em tal maneira graciosa querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.”
Um dos alvarás do rei Manuel I (“o venturoso”) foi dirigido à Casa das Índias (órgão da maior importância, na organização colonial lusitana). Esse documento mandava ao feitor e aos oficiais da mencionada Casa da Índia que “procurassem e elegessem um homem prático e capaz de ir ao Brasil dar princípio a um engenho de açúcar; a que se lhe desse sua ajuda de custo, e também todo o cobre e ferro e mais coisas necessárias”.
O homem prático e capaz escolhido (quatorze anos após os ditos alvarás) foi, precisamente, Martim Afonso de Sousa a quem o rei, a essas alturas João III, dirigiu três cartas-régias, datadas de 20 de novembro de 1530.
Em verdade, a escolha de Martim Afonso de Sousa deveu-se ao fato de pertencer a uma das mais notáveis famílias de Portugal (descendendo, inclusive, por linha bastarda, do rei Afonso III (1248 – 1279), sendo que seu pai, Lopo de Sousa, serviu à Casa de Bragança.
Lembre-se, ademais, que era amigo do príncipe João, que elevado ao trono, com o título de João III (1521 – 1557), investiu-o na missão em destaque.
Essas três cartas-régias, dirigidas a Martim Afonso de Sousa, assumem relevo especial, na designada história do direito brasileiro, posto que constituíram os primeiros atos legislativos (diga-se, assim), que tiveram aplicação direta no Brasil, assentando mesmo as bases do início da colonização, isto é, disciplinaram o primeiro dos regimes coloniais experimentados pelos portugueses, nas terras que ainda não conheciam bem, mas que denominaram de “Vera Cruz”, porque já sabiam não se tratar de uma ilha.
Por essas cartas, foi conferida autoridade ilimitada ao capitão mor e governador das novas terras: o soldado de valor e com qualidades de estadista, Martim Afonso de Sousa.
Com efeito, continham as cartas as normas que a coroa portuguesa entendia indispensáveis para que se desse início a uma administração colonial. Abrangiam elas todos os ramos da administração, como as de caráter político, de direito público (direito penal e processual, por exemplo), de direito judiciário, de caráter militar, etc.
Em suma, a Martim Afonso de Sousa foram conferidos poderes absolutos, de tal modo que pudesse exercer sua autoridade, quer elaborando leis, quer, ainda, mandando aplicá-las e executá-las.
Pela primeira das cartas-régias, observa-se que Martim Afonso de Sousa, além de capitão-mor da armada e governador das terras já descobertas (e a descobrir), tinha inteira jurisdição sobre todas as pessoas que nelas se achassem, “com poder e alçada tanto no cível como no crime, dando as sentenças que lhe parecessem de justiça, até a morte natural sem apelo e sem agravo”, salvo se o réu fosse fidalgo.
Já, pela segunda das cartas em referência, foram-lhe conferidos poderes para “criar e nomear tabeliães e mais oficiais de justiça necessários, quer para tomar posse das terras, quer para as coisas da justiça e governança (...)”. Na terceira, estava consignado o poder de dar terras de sesmarias, não só às pessoas que vieram com ele (cerca de quatrocentos, entre fidalgos, marinheiros etc), mas também a outras que quisessem viver na colônia.
Em março de 1533, deixando como seu lugar-tenente, o padre Gonçalo Monteiro, no governo de São Vicente, Martim Afonso de Sousa retornou a Portugal, deixando claro que foi o primeiro juiz (de mais alta jurisdição), e que, também, nomeou os primeiros juízes, de menor hierarquia, nas terras do Brasil.
Mas o primeiro diploma legal, que mais se aproxima do que atualmente chamamos de lei de organização judiciária, de acordo com o insuspeito lecionamento do professor e magistrado Lenine Nequete3, surgiu após a outorga da Constituição Imperial Brasileira de 1824, conforme vaticínio abaixo reproduzido:
“(…) a lei que mais de perto se referiu à organização judiciária do país, tomada sob o ponto de vista geral, foi a de 15 de outubro de 1827, embora ainda dessa vez, o problema não tivesse sido encarado senão relativamente pelos Juízes de Paz. Em cada uma das freguesias e capelas filiais curadas haveria um Juiz de Paz e o respectivo suplente, eleitos como os vereadores e pelo mesmo tempo, os quais só se poderiam escusar em caso de moléstia grave comprovada, exercício de emprego civil ou militar ou quando já houvessem servido duas vezes sucessivamente. As suas atribuições – das mais relevantes nesses obscuros e incipientes ensaios de configuração do Poder Judiciário – eram, a um só tempo, judiciais, administrativas e policiais.
Embora se atribua a essa lei uma espécie de norma embrionária de nossa organização judiciária, o Juiz de Paz não estava autorizado a celebrar casamentos, posto que esta era uma atribuição exclusiva das autoridades eclesiásticas, conforme o rito católico estabelecido de acordo com o Direito Canônico vigente no Brasil Império.
Nos tempos pretéritos, o Juiz de Paz tinha funções conciliatórias e decidia as questões informalmente de modo verbal, não obstante tivesse poderes para prender em flagrante os malfeitores. O objetivo dessa magistratura leiga e honorífica, surgida entre nós durante o regime imperial brasileiro, era evitar que as partes em contenda utilizassem o procedimento judicial, que àquela época já apresentava extrema lentidão, burocracia e engenhosos formalismos em suas diversas fases.
Contudo, cada Juiz de Paz, que não ostentava o título de bacharel em Direito, era eleito pelo mesmo tempo e maneira que eram eleitos os vereadores das Câmaras Municipais. Com efeito, tinha o Juiz de Paz direito a ser auxiliado por um escrivão, nomeado e juramentado pela Câmara Municipal, sem direito a remuneração alguma. No entanto, na conformidade da segunda parte do art. 6.º, da Lei de 15/10/1827, acima referida, o escrivão “servirá igualmente de Tabellião de notas, no seu districto sómente, para poder fazer, e approvar testamentos, e perceberá os emolumentos devidos aos Escrivães e Tabelliães. No impedimento ou falta do Escrivão, servirá inteiramente um homem juramentado pelo Juiz de Paz.”
E foi ao lado desse magistrado popular que floresceu, como se disse, mediante nomeação política e despótica dos edis, a figura do escrivão, que exercia funções de tabelião e de notário, delegadas pelo poder público, instaurando-se uma espécie de casta cartorária hereditária que durou séculos, dificultando a forma republicana de acesso ao cargo, mediante concurso público, ante a resistência de titulares e de substitutos das serventias extrajudiciais que não abdicavam da delegação, embora não cumprissem com fé pública os deveres do cargo, nem gozassem mais da confiança da autoridade judiciária competente para afastá-los da função delegada.
3. ATOS PRECURSORES DOS REGISTROS NOTARIAIS
As civilizações antigas guardavam, por imperativo religioso, a tradição de cultuar os deuses familiares, mantendo o tempo todo um altar para essa veneração, onde o fogo sagrado era o símbolo moral da religião familiar.
O lar e o fogo sagrado enriqueciam a família e, como afirmei, era uma espécie de signo moral representativo da autoridade patriarcal doméstica. O fogo do lar, na incensurável preleção de Fustel de Coulange4 “é a verdade que brilha.”
Para esse grande historiador francês5, o reconhecimento da paternidade “assinalava-se por ato religioso.” Para melhor compreensão do lecionamento do festejado professor6 da faculdade de Sorbonne, reproduz-se o seguinte trecho de sua monumental obra “A Cidade Antiga”. Ouçamo-lo:
“Nesse dia, o pai reunia a família, chamava testemunhas e fazia um sacrifício no seu lar. A criança era apresentada aos deuses domésticos; uma mulher, levando-a nos braços e, correndo, fazia-a dar muitas vezes a volta ao fogo sagrado. Esta ceerimônia tinha o duplo fim de primeiro purificar a criança, isto é, limpá-la do pecado maculador que os antigos supunham haver contraído pelo simples fato da gestação, e, em seguida, iniciá-la no culto doméstico (...). O princípio do parentesco não estava no ato material do nascimento, mas no culto.”
Com efeito, a mesma regra era adotada em se tratando de direito de propriedade. O lecionamento a respeito do tema é novamente do consagrado professor Fustel de Coulanges7. Ouçamo-lo:
“Não foram as leis, mas a religião, aquilo que primeiramente garantiu o direito de propriedade. A idéia de propriedade privada estava na própria religião. Cada família tinha o seu lar e os seus antepassados. Esses deuses só podiam ser adorados pela família, só a família protegiam; eram propriedade sua. (...) E a família, ficando, destarte, por dever e por religião, agrupada em redor do seu altar, fixa-se ao solo tanto como ao próprio altar. A idéia de domicílio surge espontaneamente. A família está vinculada ao lar e este, por sua vez, encontra-se fortemente ligado ao solo; estreita conexão se estabeleceu, portanto, entre o solo e a família (...). Como o lar, a família ocupará sempre este lugar. O lugar pertence-lhe: é sua propriedade, propriedade não de um só homem, mas de uma família, cujos diferentes membros devem vir, um após outros, nascer e morrer ali.”
Outra forma de obtenção da propriedade na antiguidade se verificava pelo local que era edificado o túmulo sagrado onde os membros da família eram sepultados uns após os outros.
O tratamento jurídico dado a esse ritual também passava pela religião, e não por questões de política sanitária ou de salubridade, mas para preservar a memória post mortem que a pessoa falecida gozava quando convivia com os membros do seu grupo familiar e social.
A ideia de que os cemitérios não são apenas lugar dos mortos, mas também dos vivos, define a noção de propriedade dos antigos e, mais que isso, da sociedade atual. Vejamos os lecionamentos a respeito:
“A sepultura estabelecia vínculo indissolúvel da família com a terra, isto é, a propriedade. Em tudo isto se manifesta o caráter da propriedade. Aqui está, assim, uma parcela de terra em nome da religião tornada objeto de propriedade perpétua em cada família. A família apropriou-se desta terra, colocando nela os seus mortos, fixando-se lá para sempre (…). O solo onde repousam os mortos converte-se em propriedade inalienável e imprescritível.”
(Fustel de Coulanges. Obra citada, p. 62. usque 64).
“O túmulo monumental ou o jazigo chamado perpétuo ou a simples cova marcada com uma cruz de madeira – prolongamento das casas-grandes, depois dos sobrados, das casas térreas, dos mucambos, hoje das últimas mansões ou casas puramente burguesas e do numeroso casario pequeno-burguês, camponês, pastoril e proletário – é, como a própria casa, uma expressão ecológica de ocupação ou domínio do espaço pelo homem. O homem morto ainda é, de certo modo, homem social. E, no caso de jazigo ou de monumento, o morto se torna expressão ou ostentação de poder, de prestígio, de riqueza dos sobreviventes, dos descendentes, dos parentes, dos filhos, da família. O túmulo patriarcal, o jazigo chamado perpétuo, ou de família, o que mais exprime é o esforço, às vezes pungente, de vencer o indivíduo a própria dissolução integrando-se na família, que se presume eterna através de filhos, netos, descendentes, pessoas do mesmo nome. E sob esse ponto de vista, o túmulo patriarcal é, de todas as formas de ocupação humana do espaço, a que representa maior esforço no sentido de permanência ou sobrevivência da família: aquela forma de ocupação de espaço cuja arquitetura, cuja escultura, cuja simbologia, continua e até aperfeiçoa a das casas-grandes e dos sobrados dos vivos, requintando-se, dentro de espaços imensamente menores que os ocupados por essas casas senhoriais, em desafios ao tempo.”
(Gilberto Freyre. Sobrados e Mucambos. São Paulo: Global Editora, 15.ª ed., p. 45, 2004).
Os povos antigos, por ausência de direito escrito, aplicavam preceitos religiosos para dirimir questões envolvendo temas como propriedade, família, sucessão, etc, relativas aos sacrifícios, à sepultura e ao culto dos antepassados. Destarte, quando vizinhos entravam em conflito deviam queixar-se perante o rei, o pontífice ou os sacerdotes, porque prevalecia a ideia de que as leis eram elaboradas pelos deuses.8
Como bem explica Carlos Emérito González9 “Los principios religiosos constituyen sin duda una valla de contención para las extralimitaciones de uno y otros, por el temor a Dios y al perjuicio o castigo que pudiera acaecerles por las violaciones a lo pactado.”
Constantino, primeiro imperador romano cristão, no ano de 313, favoreceu o desenvolvimento da jurisdição episcopal, permitindo às partes submeterem voluntariamente seus interesses em conflito à apreciação do bispo. Era o reconhecimento da competência religiosa para o exercício da jurisdictio, ou seja, para a legitimidade de dizer o direito com base na auctoritas prudentium.
Essa realidade histórica, como sempre baseada no lecionamento incensurável de Fustel de Coulanges10, era proveniente da crença no poder sobrenatural da religião. Para esse historiador:
“A religião gerara o direito: as relações entre os homens, a propriedade, o patrimônio, o processo, tudo fora regulado, não por princípios de eqüidade natural, mas pelos dogmas dessa religião, só atendendo às necessidades do seu culto. Fora ainda esta religião que estabelecera um governo entre os homens: o do pai na família, o do rei ou do magistrado na cidade. Tudo procedia da religião, isto é, da opinião que o homem formara da divindade. Religião, direito, governo confundiam-se e mais não eram que a mesma coisa vista sob três aspectos diversos.”
Mas havia uma preocupação dos povos antigos em resguardar seus interesses, mesmo antes do surgimento da escrita, quando os cidadãos que necessitavam proteger “seus direitos em negócios, se valiam da figura do sacerdote memorista, que inspirava confiança a todos”11, para solucionar as pendências. Nesse particular, as mais antigas normas de direito, como o Código de Hamurabi, o Código de Manu, a Lei das XII Tábuas e a Legislação Mosaica, são exemplos que podem ser consultados no pélago longínquo do tempo.
No Brasil, por exemplo, a competência da igreja católica, na figura do titular da paróquia ou da prelazia, ao praticar o ato do registro, era semelhante à competência dos oficiais cartorários de registro civil nos dias de hoje. O tempo passou e no ano de 1850, foi editada a Lei n.º 601/1850 (lei de terras), posteriormente regulamentada pelo Decreto n.º 1318/1854. Diante disso, o chamado “registro do vigário” ou “registro paroquial” legitimou a aquisição de imóveis pela posse, distinguindo do domínio público todas as posses levadas ao devido registro imobiliário.
Na atualidade, os nubentes que optam pelo casamento religioso do culto católico precisam provar que foram batizados no ritual de purificação cristã na pia paroquial. Para isso, solicitam certidões do sacramento batismal, as quais são extraídas dos livros existentes nas catedrais, considerando que sem o batistério a cerimônia matrimonial não é realizada pelo sacerdote.
Por consequência, deve ser dito que, na antiguidade, inexistiam sistemas de publicidade para os atos notariais e registrais.12 A publicidade da transmissão de um direito, em verdade, não existia, sendo certo afirmar-se que o direito e a coisa se confundiam, porque o ato de alienação não representava a transferência do domínio, mas da própria coisa.
Parte dessa história foi transmitida para a posteridade através dos costumes dos povos. Porém, os escribas, que eram pessoas que gozavam de grande destaque social, pelo fato de dominarem a escrita e a leitura, registraram tais acontecimentos em textos que redigiram, deixando-os ao exame dos historiadores e de outro tanto de profissionais para a divulgação à posteridade de como viviam as civilizações de antanho.
Sabe-se que a função cartorária teve, inicialmente, como titulares apenas as pessoas que sabiam escrever, as quais ensinavam a arte da escrita exclusivamente para seus filhos que, por sua vez, transmitiam para os netos dos primitivos escrivães, transformando a atividade no que convencionou-se chamar-se de vitalícia e hereditária, posto que a delegação se prolongava no tempo dentro do próprio grupo familiar.
Só recentemente passou-se a exigir concurso público de provas e títulos para profissionais formados em Direito, interessados em assumir a delegação e titulação das serventias extrajudiciais, considerando que ainda vigorava em nosso país uma prática de despotismo, nepotismo e familismo brasileiro no exercício da função cartorária, numa espécie de aristocrático culto doméstico, como se fosse juridicamente correto e legal a manutenção da delegação por hereditariedade.
Feitas as presentes considerações, cujo objetivo é retratar como as antigas civilizações se comportavam em sociedade, encerro este capítulo concluindo que a primeira forma de organização judiciária surgiu dentro do próprio lar sagrado, onde o patriarca possuía jurisdição e competência para decidir, em família, sobre inúmeras regras de direito com base na religião.