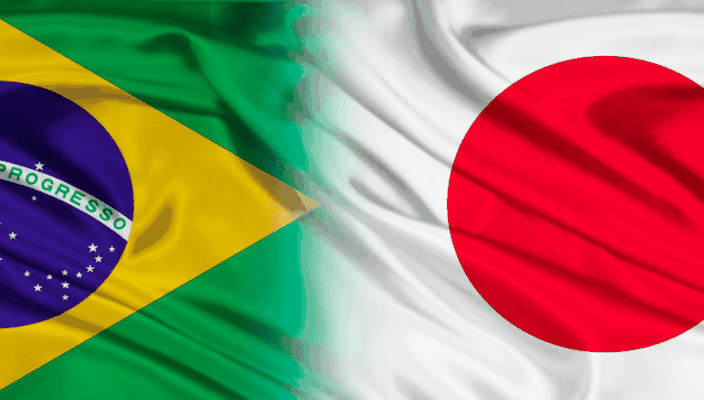Introdução
A imigração japonesa no Brasil é popularmente retratada como um fenômeno que teria contribuído para uma suposta “democracia racial” no Brasil. Especialmente neste ano em que se completam 110 anos da chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos, em 18 de junho de 1908, avolumam-se homenagens à comunidade nipo-brasileira, que teria contribuído para a formação da identidade multiétnica brasileira e cultivado valores associados à meritocracia. Aos descendentes de imigrantes japoneses, um orgulho; aos não descendentes, um agradecimento. Entretanto, por trás da narrativa romantizada e do ambiente festivo, ocultam-se histórias de discriminação e de resistência, que infelizmente nem todos estão dispostos a trazer à tona.
Não se quer com esta apresentação desmerecer homenagens pelo centésimo décimo aniversário da imigração japonesa, que são justas. Todavia, mostra-se cada vez mais necessária uma tomada de consciência pela comunidade nipo-brasileira acerca de sua identidade, não sob a perspectiva nipocêntrica, e sim contextualizada num processo histórico de discriminação de minorias étnico-raciais, sobre o qual se ergueu o Brasil. Japoneses e descendentes, afinal, atrapalhavam o projeto nacional que, privilegiando a imigração europeia, buscava branquear uma população em que, majoritariamente, corria sangue africano e indígena. O racismo sempre serviu para satisfazer a supremacia branca e é um terrível contrassenso que nipo-brasileiros assimilem valores da branquitude e passem a apoiar ações que até hoje esmagam negros e indígenas do país, como há tempos vem ocorrendo.
Projeto de “branqueamento” da população brasileira
Explica Lilia Moritz Schwarcz que, no século XIX, surgiram na Europa doutrinas que, inspiradas na teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin (1859), procuravam explicar e justificar a sociedade estratificada produzida pelo capitalismo industrial, originando o chamado “darwinismo social”. Aplicando conceitos como “competição”, “seleção do mais forte”, “evolução” e “hereditariedade” para análise do comportamento das sociedades humanas, consideravam seres humanos desiguais por natureza, dotadas de aptidões inatas, algumas superiores e outras inferiores. Uma vez que as raças constituíam fenômenos finais, resultados imutáveis, diziam os teóricos do darwinismo social que o cruzamento seria um erro, conduzindo à ideia da necessidade de submissão ou até eliminação de raças inferiores: nascia a prática da eugenia, cujo movimento incentivou uma administração científica e racional da hereditariedade, introduzindo políticas sociais de intervenção que incluíam seleção social (1993, pp. 78-9). Dessa forma, a eugenia preconizava o favorecimento, pelo Estado, da formação de uma elite genética por meio do controle científico da procriação humana, onde os inferiores seriam ou eliminados ou desencorajados a procriar.
As teorias raciais deram o tom ao pensamento intelectual brasileiro do final do século XIX. O discurso científico evolucionista como modelo de análise social, largamente utilizado pela política imperialista europeia, penetrou no Brasil a partir da década de 1870 como um argumento para explicar as diferenças internas. O país tinha uma população majoritariamente de mestiços, perfil que, aos olhos de viajantes europeus que aqui estiveram, era a comprovação da degeneração do país. No contexto em que o conhecimento ganhava destaque no Ocidente — e no caso brasileiro, mais propriamente o consumo de modelos evolucionistas e social-darwinistas originalmente popularizados como justificativas teóricas de práticas imperialistas de dominação — , negros africanos, trabalhadores, escravos e ex-escravos, que compunham as classes “perigosas”, passaram a ser objetos de ciência; era a partir da ciência que se reconheciam diferenças e determinavam inferioridades (Schwarcz, 1993, p. 38).
Autores brasileiros buscavam explicação para as crises social e econômica na constituição étnica do povo, e não por questões históricas ou políticas, e o faziam vinculados a instituições das quais participavam e que, por sua vez, representavam seu contexto maior de discussão intelectual. Nesses locais de pesquisa — museus etnológicos, institutos históricos, escolas de direito e medicina — é que esses homens de sciencia encontravam espaços privilegiados para a produção de ideias e teorias para seu reconhecimento social (Schwarcz, 1993, pp. 85–6). Exemplo disso foi o médico Renato Ferraz Kehl, responsável pela publicação do Boletim da Eugenia e se notabilizou pela defesa ardorosa da eugenia entre brasileiros, propunha esterilização dos “degenerados”, controle matrimonial e reprodutivo, e seleção racial dos imigrantes.
Justificando os diferentes estágios de desenvolvimento das nações, esses intelectuais diziam que os brancos compunham a raça superior e abaixo, os negros e os indígenas. Neste paradigma racial, autoridades públicas brasileiras acreditavam que a abolição da escravidão teria gerado escassez de mão de obra, já que acreditavam que negros, que eram a maioria da população brasileira, eram inaptos ao trabalho livre. A solução encontrada foi a implantação de uma política de incentivo à imigração europeia, a qual, além de suprir as demandas das lavouras, garantiria, mediante entrada de sangue branco e a consequente depuração do sangue negro pela mestiçagem, a “correção” dos componentes étnicos e produzindo um tipo racial brasileiro mais eugênico, possuidor de maior quantidade de sangue branco (Ramos, 1996, p. 61).
A “tese do branqueamento” tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade do processo de miscigenação, os descendentes de negros passariam a ficar mais brancos a cada geração. Curiosamente, trata-se de um rearranjo das teorias raciais em voga na Europa, que condenavam a mestiçagem. O antropólogo e médico carioca João Baptista de Lacerda, um dos principais expoentes da tese, no Congresso Universal das Raças, realizado em 1911 em Paris, defendeu o fator da miscigenação como algo positivo, no caso brasileiro, por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena. A população brasileira era incentivada e levada a crer que o seu desenvolvimento social, intelectual e econômico seria melhor quanto mais branca fosse. A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu como uma forma de conciliar a crença na superioridade branca com o progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país.
Assim, a política de imigração brasileira era executada não só como um meio de colonizar e desenvolver o Brasil, mas também de “civilizar” e “branquear” o país com população europeia. A entrada de imigrantes de raças tidas como inferiores foi totalmente proscrita no início da República, pelo Decreto 528, de 28 de junho de 1890: “Art. 1º. E’ inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos individuos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal do seu paiz, exceptuados os indigenas da Asia, ou da Africa que sómente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admittidos de accordo com as condições que forem então estipuladas.” Dois anos depois, pela Lei 97, de 1892, permitiu-se apenas a entrada de japoneses e chineses. Havia forte preconceito contra asiáticos, mas, apesar disso, o interesse pelo seu recebimento era grande, sobretudo a partir de 1902, quando a Itália, ao receber notícias das péssimas condições de trabalho nas lavouras brasileiras, proibiu a emigração subsidiada de italianos ao Brasil e as fazendas de café passaram a sofrer com a falta de mão de obra.
Situação de imigrantes japoneses no Brasil no início do século XX
Enquanto isso, o Japão vivia novos tempos. O xogunato Tokugawa, um regime de governo militar liderado por um xogum do clã Tokugawa e sustentado por senhores feudais que vigorava desde 1603 e manteve o Japão refratário ao Ocidente, havia caído. Com a restauração de poderes em 1868, o Imperador Meiji promoveu uma série de reformas políticas e econômicas que consistiram em abertura de portos, ampliação da rede de transportes e comunicações, instituição de monopólio em setores básicos da economia, consolidação de um sistema bancário, reforma agrária, conversão de feudos em prefeituras, revogação da proibição de venda de terras, reforma de impostos rurais e educação compulsória. Não obstante, o país apresentava excedente populacional e o povo continuava na miséria. A abertura, que tinha se iniciado pouco antes da queda do xogunato, mas acentuada após a restauração Meiji, possibilitou que muitos japoneses saíssem de suas casas em busca de uma vida melhor. Também significou oportunidade de igualdade social para minorias historicamente discriminadas na sociedade japonesa, como uchinanchu (habitantes da província de Okinawa, que antes da Era Meiji era uma nação própria, o Reino de Ryukyu) e burakumin (pessoas que trabalham com cadáveres humanos e de animais, profissões consideradas abjetas para o budismo). Assim, ocorreram as primeiras emigrações para o Havaí, depois Estados Unidos, Peru, México e, finalmente, Brasil.
Os japoneses começaram a vir para o Brasil em caráter experimental a partir de 1908 em viagens subsidiadas por fazendeiros de café. Brasil e Japão tinham um tratado de comércio assinado desde 1895 e era necessário ativá-lo. O governo japonês precisava aliviar a carga demográfica e, com isso, diminuir os protestos populares por melhores condições de vida e trabalho no país, enquanto o governo brasileiro tinha não só o interesse de exportar café para o Japão, apesar de a bebida ser praticamente desconhecida e muito pouco apreciada entre os japoneses, como também de receber mão de obra para a lavoura cafeeira. Quando os Estados Unidos proibiram a entrada de japoneses em 1924, o Brasil passou a ser um destino mais procurado, estimulado por amplas propagandas do governo japonês de enriquecimento fácil num país de enormes extensões de terras ainda incultas (Sakurai, 2016, p. 245).
Aqui chegados, os japoneses não encontraram a acolhida brasileira do imaginário popular. Péssimas condições de moradia, sistema rígido de trabalho, alimentação precária, salários baixos e pouco descanso fizeram com que o serviço nas lavouras parecesse extremamente penoso para os japoneses. O colono preocupava-se em produzir seu próprio alimento para evitar comprar nos armazéns da fazenda, que cobravam preços abusivos pelos produtos, e economizar o máximo possível para retornar ao Japão. O desespero levou muitas famílias a fugirem das fazendas, sob o temor de serem capturados pelos “capangas”; outros esperaram terminar seus contratos de trabalho. Partiam para outras fazendas com melhores condições, para Santos para trabalharem como estivadores, ou para São Paulo e se lançarem em ramos profissionais diversos (Miwa, 2006, pp. 55–6).
Mas não só isso. Antes mesmo da vinda do Kasato Maru, a imagem do imigrante japonês estava construída, vinculada, sobretudo, às campanhas expansionistas do Japão na Ásia, que geravam preocupação nos países do Ocidente. A literatura antinipônica, ao explorar a desumanidade de japoneses de forma generalizada, conduziam à ideia de que os imigrantes japoneses detinham os mesmos vícios e, assim como seus compatriotas, também atuavam e pensavam sob a bandeira do imperialismo japonês (Takeuchi, 2016, p. 48). A chancelaria brasileira ainda recebia relatos dos Estados Unidos sobre conflitos entre trabalhadores nipônicos e sindicatos, e a ação do governo norte-americano de restringir e até fechar as portas à imigração japonesa, motivada por critérios étnico-raciais de identificação de estrangeiros tidos como adeptos de ideologia subversiva ou pertencentes a raça inapta à assimilação ao país (Takeuchi, 2016, p. 38).
Desde o século XIX, discutia-se no Brasil qual seria a melhor política migratória a partir de representações do “imigrante desejável”, geralmente branco ariano, e do “imigrante indesejável”, como negro ou amarelo. O ápice do debate era o “problema de assimilação”, ou seja, o grau de assimilação era relacionado à miscigenação e aos resultados que poderiam ser perniciosos caso a raça seja a “indesejável”. Segundo Takeuchi (2016, p. 39), a repercussão da legislação discriminatória norte-americana serviu de referência para autoridades e pensadores antinipônicos. Sobressaía, assim, a concepção de que os imigrantes japoneses permaneciam enquistados na Nação brasileira por diferenças raciais e culturais e por supostamente estarem motivados pelos interesses militares de sua pátria.
Autores brasileiros também se ocupavam em expor seu ideal antinipônico em livros e artigos. Um deles foi Vivaldo Coracy, que publicou entre abril de junho de 1942 no Jornal do Commercio artigos sob o título O Perigo Japonês, nos quais caracterizava japoneses como povo inassimilável e instrumento passivo de uma política imperialista contra todo continente americano e propunha uma política de defesa contra a concentração de imigrantes de origem japonesa, acusados de conspirarem contra o Brasil. Outro autor foi Carlos de Souza Moares, que, em A ofensiva japonesa no Brasil: aspectos social, econômico e político da colonização nipônica, que, assim como Coracy, lançou mão de imagens estereotipadas para convencer seus leitores do grande mal que a imigração japonesa representava para a segurança e a integridade territorial brasileira.
Em sua própria obra (1942), Moraes traz alguns exemplos do pensamento predominante na época, como comentários de Celso Vieira (“São exatamente germes invisíveis, localizando-se num organismo de atleta, os que produzem males devastadores”), Francisco José de Oliveira Viana (“O japonês é como enxofre: insolúvel”) e Fidélis Reis (“Mas como elemento colonizador, o amarelo — o japonês e chinês — de forma alguma nos convém. Formal é a nossa oposição a qualquer corrente imigratória de origem amarela. E isso do ponto de vista étnico, moral, social, estético e econômico”). Segundo Moraes, até Carlos Botelho, Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e responsável por promover a primeira leva de imigrantes japoneses em 1908, havia se penitenciado de seu erro, declarando a Reis que não saberia como penitenciar-se do mal que fizera ao país.
A subordinação da política migratória à questão racial ganhou ênfase na década de 30, como foram os Decretos 24.215, de 9 de maio de 1934, e 24.258, de 16 de maio de 1934, que estabeleciam regras rigorosas ao processo de imigração dos “indesejáveis” ao país e, embora não se referissem a negros e amarelos, serviram para criar um clima xenófobo, atribuindo o atraso e as dificuldades econômicas à composição étnica de não brancos (Shiraishi Neto, 2016, p. 17). Na Assembleia Constituinte de 1933–1934, a eugenia deu o tom nos debates, sobretudo a partir da “bancada médica”, formada por 60 deputados e liderada por Miguel Couto, que desempenhou importante papel na discussão das políticas imigratórias. Argumentos eugenistas que sustentavam a tese da superioridade de algumas raças sobre outras — como cartas de Oliveira Viana que defendiam a “arianização” da população brasileira para alcançar a prosperidade - eram usados por Couto para criticar a imigração japonesa. Por um lado, procurava demonstrar que esses imigrantes não poderiam contribuir para o desejado branqueamento; por outro, fez uso da questão do imperialismo e expansionismo japonês como ameaça à segurança nacional. Assim, os japoneses pareciam reunir alguns fatores temidos: a condição racial de não brancos, e de membros de uma nação imperialista que, por fim, dificilmente seriam assimilados, mantendo-se como colônias homogêneas (Geraldo, 2007, pp. 75–6).
Os debates da Constituinte resultaram na inserção, no texto da Constituição Federal de 1934, do dever da União, dos Estados e dos Municípios de estimular a educação eugênica (art. 138, “b”), por meio do qual eugenistas visavam conscientizar os jovens e adultos de forma que o matrimônio entre pessoas de uma mesma classe social e étnica deveriam ser a base do aperfeiçoamento da estrutura social brasileira. Especificamente em relação a imigrantes, diante de uma comunidade japonesa cada vez mais numerosa, a constituinte optou pela limitação de imigração em 2% do total de ingressantes nos últimos 50 anos (art. 121, § 6º), dispositivo veio a ser reproduzido também pela Constituição Federal de 1937 (art. 151). A Carta Magna de 34, ainda, revelando a preocupação de intelectuais com a questão da assimilação de imigrantes (japoneses, em especial), estabeleceu que “é vedada a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e assimilação do alienígena” (art. 121, § 7º).
A homogeneidade étnica e cultural foi encarada, do ponto de vista oficial, como fundamental para o progresso da Nação. Nesse contexto, o Estado Novo de Vargas procurou restringir a imigração por meio de intervenção do Estado na organização e na cultura de imigrantes. O Decreto-lei 406, de 4 de maio de 1938, preceituava que: “Art. 2º. O Governo Federal reserva-se o direito de limitar ou suspender, por motivos econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens, ouvido o Conselho de Imigração e Colonização.” O governo federal poderia limitar ou suspender por motivos econômicos e sociais, o ingresso de indivíduos de determinadas raças e origens tendo em conta a preservação da constituição étnica do país, e interesses culturais e econômicos. Imigrantes deveriam atender as exigências físicas e morais trazidas pela legislação, ou seja, as exigências físicas estavam relacionadas à origem étnica conveniente (“cor branca”) e que não possuíam defeitos físicos ou problemas de saúde e, de outro lado, as exigências morais,associadas à opção religiosa, que deveria ser o cristianismo. De outro lado, os Decretos-leis 383, de 18 de abril de 1938, e 858, de 18 de novembro de 1938, promoviam a campanha de nacionalização de estrangeiros: o primeiro vedava atividade política a estrangeiros; o segundo criava a Comissão Nacional de Ensino Primário, a quem competia definir ações governamentais de nacionalização integral do ensino primário de todos os núcleos de população de origem estrangeira.
O preconceito antinipônico se acentuou na Segunda Guerra Mundial, com o acirramento de sentimentos nacionalistas do Estado Novo e a entrada do Japão na guerra ao lado da Alemanha e da Itália em 1941, refletindo na situação dos imigrantes “súditos do Eixo”, como os japoneses. O Decreto-lei 3.911, de 12 de dezembro de 1941, condicionou a realização de transações financeiras de empresas de japoneses, italianos e alemães à prévia autorização do Banco do Brasil e o Decreto-lei 4.166, de 11 de março de 1942, dispôs que os danos causados por atos de agressão praticados pela Alemanha, Itália e Japão seriam ressarcidos pelos bens e direitos de seus nacionais residentes no Brasil (Shiraishi Neto, 2016, p. 19). Algumas dessa medidas foram bastante doloridas para imigrantes japoneses, que, ainda pouco integrados à sociedade brasileira, procuravam se concentrar e zelar pelas suas tradições, mas que de uma hora para outra passaram a ser controlados pelas forças do governo: fechamento de escolas de japonês, proibição de se falar em língua japonesa em público (para a maioria, era essa a única forma de se comunicar), confisco de bens, proibição de viajarem sem salvo-conduto, proibição de dirigirem seus próprios veículos, além do tratamento como prisioneiros de guerra. Difundia-se a tese segundo a qual o que acontecera na Manchúria poderia ocorrer no Brasil com as supostas ações do Japão, através de agentes militares infiltrados nas colônias disfarçados de simples lavradores ou pescadores.
Mesmo com o fim da Segunda Guerra e do Estado Novo em 1945, a sentimento antinipônico persistia, em especial quando ganhavam espaço nos noticiários as ações da Shindo Renmei, uma organização classificada como terrorista pelo governo e formada por nipo-brasileiros que assassinava quem, da mesma comunidade, acreditava na derrota japonesa na guerra, causando vários conflitos violentos. A política migratória, a seu turno, ainda privilegiava brancos, na forma do Decreto-lei 7.967, de 18 de setembro de 1945 (“Art. 2º. Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência européia, assim como a defesa do trabalhador nacional.”), o qual foi revogado somente pelo Estatuto do Estrangeiro, de 1980. Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, o deputado Miguel Couto Filho, filho do deputado constituinte de 1934 e autor de um livro chamado Para o futuro da pátria: evitemos a niponização do Brasil, apresentou a famigerada emenda 3165, que dizia apenas: “É proibida a entrada no país de imigrantes japoneses de qualquer idade e de qualquer procedência”; o ódio antinipônico havia unido a esquerda e a direita e a votação terminou empatada, decidindo-se pela sua rejeição graças ao voto de minerva do presidente da sessão.